Relatos amazônicos 7 - Nas águas melancólicas
Sinto o chão de madeira mover-se de um lado para o outro, num balanço muito suave, quase imperceptível. Aproximo-me da janela e subitamente uma oscilação um pouco mais forte me desequilibra. Dou uma pisada de lado, corrijo o corpo e sorrio. A sensação é inteiramente nova para mim. Lá fora a água bate com força num obstáculo: "splash!". O som é muito próximo. Estou no interior de uma habitação flutuante ancorada no rio Japurá. São as instalações da Pousada Uacari, situada no interior da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, uma enorme unidade de conservação amazonense encravada entre os rios Solimões, Japurá e Auati-Paraná.
O que na verdade flutua não é exatamente o piso da habitação, mas sim os grossos troncos de madeira assacu sobre os quais a estrutura está apoiada. Esses troncos, de enorme resistência e durabilidade, já boiam na superfície da água, subindo e descendo ao ritmo das cheias e vazantes, há 18 anos. São tão resistentes que sobre eles plantam bananeiras e outras árvores. O quadro de uma agradável casa de madeira, com suas plantas ao redor, fica assim completo. Só que... tudo isso está a boiar sobre as águas.
"O que impede as habitações de saírem à deriva?", pergunto. Então me apontam grossas cordas que prendem os troncos flutuantes a árvores na margem do rio. Para que essas cordas submersas não bloqueiem a passagem das embarcações, são presas a grandes blocos de concreto, que as tensionam para o fundo do rio.
Toda longa viagem tem o seu momento de baixa. Há 21 anos, quando desembarcamos no aeroporto daquela monstruosidade urbana denominada Mumbai, comecei a sentir que esse momento chegara, na jornada de oito meses por cinco continentes, que estávamos a realizar. Assim que deixamos a área climatizada e protegida do aeroporto e saímos para a cidade, sentimos o cheiro inconfundível, uma mistura de suor humano, sujeira e odor provocado pelo calor úmido. Já no trajeto de táxi para o centro da cidade, comecei a sentir os sinais da indisposição física. A diarreia começou tão logo demos entrada no hotel, um pardieiro sujo e escuro. Foram três dias no quarto. A cidade lá fora representava uma ameaça que eu não queria enfrentar. Por fim, no terceiro dia dessa imersão pesada, a parceira, usando o tom direto que lhe era peculiar, me disse incisivamente: "Márcio, nós chegamos aqui para conhecer a Índia. Portanto, respire fundo, levante-se, tome um banho e vamos conhecer a Índia". E efetivamente, depois disso, passamos intensas semanas nesse país tão desafiador quanto fascinante.
Certamente a chegada à Pousada Uacari não foi tão trágica quanto esse tormentoso desembarque na megalópole indiana. Mas eu não estava nada bem. As diarreias haviam começado dois dias antes. Sentia-me cansado e sem energia.
Observei os colegas de hospedagem, com os quais dividiria os passeios ao longo dos próximos dias. Um casal de jovens franceses, sérios, contritos e reservados. Trabalhadores europeus de classe média, ela enfermeira, ele empregado numa empresa de detecção de fraudes industriais. Um outro casal, que mais tarde viria a saber serem ele dinamarquês e ela japonesa, moradores dos Estados Unidos, silenciosos e discretos. Um argentino, que depois me revelariam ser do "grupo dos pescadores", isto é, do grupo de hóspedes que estavam ali com interesses pesqueiros e não ecológicos - pois em Uacari hospedam-se tanto pessoas com interesses ecológicos, que formam pequenos grupos para a visitação à floresta, ao rio, ao lago, quanto pescadores praticantes do "pesque e solte", que formam grupos diferentes. Esse argentino, um homem grande e troncudo, olhava-me fixamente quando eu chegava à mesa, o que me incomodava um pouco.
A agente de ecoturismo do projeto, responsável por receber os hóspedes ecológicos e coordenar os seus passeios pela região, parecia-me oscilar entre a empatia e um certo tédio. Alguns dias depois da minha chegada me revelaria não estar inteiramente satisfeita com a posição que ocupava e por isso ansiar por uma mudança.
Nada animador, o "meu" grupo. Com os franceses, com quem fiz a primeira trilha pela mata, e obviamente também com o casal residente nos Estados Unidos, só podia me comunicar em inglês - no meu hesitante inglês -, o que com certeza só piorava as coisas.
Olhava para as águas quase imóveis do rio, a paisagem paralisada como numa fotografia, e uma palavra me vinha à mente: melancolia. A placidez, o isolamento e um certo ensimesmamento daquele lugar, com seus hóspedes silenciosos e autocentrados, acentuavam os meus traços melancólicos.
Se o quadro psicológico já era conhecido, as condições fisiológicas logo começaram a preocupar. Na noite da minha chegada tive uma pequena febre, o que não ocorrera ainda. O corpo começou a doer. Sentia-me cansado e desalentado. Lentamente um outro fantasma, esse completamente desconhecido, começou a me rondar: malária. Tinha percorrido áreas de águas poluídas e paradas, como os esgotos a céu aberto de Santarém e os igarapés degradados de Manaus, numa região que responde por nada menos que 98% da taxa de incidência da doença no Brasil. A malária é de difícil tratamento e há casos em que a cura nunca é completa.
Na manhã seguinte, com o coração pesado, carregado de maus presságios, peguei o barco dos funcionários da pousada, que iam até a cidade de Alvarães comprar alimentos para o estabelecimento. Nessa cidadezinha de 15 mil habitantes estava o hospital mais próximo.
Alvarães, como muitas cidades do interior da Amazônia, é um lugar pobre, de ruas sujas, habitações precárias e trânsito perturbador, especialmente de motocicletas. O "porto", onde desembarquei, nada mais é do que uma plataforma de ferro flutuante, atrás da qual está um imenso barranco de terra nua, que se tem que subir a pé para acessar o primeiro sinal da cidade, que são os "mototáxi" que ali aguardam passageiros.
Ajudado por um dos funcionários da pousada, rapaz gentil e prestativo, peguei uma dessas mototáxi e rumamos para o hospital.
Paredes sujas e descascadas, móveis velhos, enfermeiras de roupas comuns e não de uniforme branco. Tudo naquele hospital cheirava a falta de recursos, higiene precária e improvisação. O que não impediu que eu fosse bem recebido e rapidamente atendido. O médico - o único médico do hospital, por sinal -, um catarinense moreno, de cerca de 45 anos ou talvez mais, traços firmes e fala exaltada, logo ampliou a conversa comigo para além das questões clínicas:
- "Cheguei aqui em 2013. Não vivo só da medicina. Tenho dois sítios perto da cidade. Num deles exploro madeira, no outro tenho roças e tanques de matrinxãs. Os sítios vão muito bem. Aqui é ótimo". E quase imediatamente começa a pontificar:
- "Falam contra as queimadas. Mas isso é tradição aqui! Como eu vou plantar sem queimar a mata?!" E, passando por trás de mim, que estou sentado, brada:
- "Vamos tacar fogo na Amazônia!"
Percebo que essas explosões súbitas são a maneira dele entrar em contato com as pessoas.
- "Aqui nós estamos muito próximos da fronteira. É tudo diferente. Na Amazônia é tudo diferente. Tu já viste o tamanho das borboletas daqui? E dos besouros?". E abre as duas mãos medindo o tamanho.
- "É verdade, Doutor. Essa virose que eu peguei, por exemplo. Resistente. A Amazônia às vezes parece agressiva...". Ele dá uma gargalhada de contentamento:
- "Isso mesmo! Esta cidade, por exemplo. Já tentaram entrar duas vezes nos meus sítios. Mas eu sou o único médico da cidade. Então os caras sabem que se aprontarem comigo, eu apronto com eles também. Aqui dentro" - e aponta o consultório - "eles estão na minha mão. Então sabem que não podem aprontar comigo. Outro dia entrou aqui um desses, vigiado por um policial. Em certo momento ele puxou a arma do policial e nós todos aqui dentro ficamos apavorados. Então eu peguei uma dessas cadeiras" - aponta a cadeira hospitalar, de aço, em que estou sentado - "e acertei duas cadeiradas na cabeça do sujeito. Ele caiu para trás, pensamos que tinha morrido, mas dali a pouco se levantou".
Como se tivesse ouvido uma história muito engraçada, abro um sorriso e incentivo-o a continuar:
- "Muito crime aqui, Doutor?"
- "Muito, muita droga".
- "Crack?"
- "Sim, crack, Outro dia tinha uma mulher andando por aqui com um fuzil e 30 quilos".
- "Trinta quilos de que, Doutor?"
- "De pasta-base. Quem vem para cá tem que aprender a entender esta região. Aqui nesta cidade, por exemplo, cada um faz o que quer. Não tem lei".
- "E o Senhor acabou por se tornar também um homem da fronteira, não é?"
- "Claro! Sou um homem da fronteira. E amo isso daqui. A Amazônia é top!". E dá uma de suas sonoras gargalhadas.
Deixo o hospital e o seu singular médico portando nas mãos o exame negativo para malária. Não obstante o resultado tranquilizador, o próprio médico me avisara de que esse exame não era definitivo; podia se tratar de um "falso negativo". A doença é insidiosa. Mas nos dias seguintes as minhas condições de saúde melhorariam e me livraria definitivamente do fantasma da malária.
No retorno de Alvarães para a pousada, os empregados vão às compras. Isso significa parar o barco ao lado dos "comércios" locais, isto é, as peixarias, vendedores de gelo e até mesmo um rústico supermercado. São simples estruturas de madeira, que comercializam, entre outros produtos, os peixes pescados com tarrafa ("malhadeira") e a farinha de mandioca produzida artesanalmente pelas comunidades do entorno. Da mesma forma que a Pousada Uacari e várias das moradias da região, também esses estabelecimentos flutuam sobre as águas.
Os dias passados na região incluem diversas atividades. Caminhadas diurnas pela floresta, com observação de árvores, plantas pequenas, mamíferos, aves e insetos. Uma simulação de pescaria. Uma caminhada noturna pela floresta, experiência muito interessante de exercício da audição dos sons da mata sem luz. Uma navegação de canoa, a remo, pelo assim chamado "cano", isto é, um imenso duto natural, largo e volumoso, a carrear continuamente água para o Lago Mamirauá.
A visita a esse lago constitui o ponto alto da experiência. Ele é, de certa forma, o elemento central dessa região, o seu mais valioso repositório de fauna e flora e, por isso mesmo, o ponto focal das ações do Instituto Mamirauá. O nome indígena significa, a propósito, segundo informa um dos guias locais, "mãe e filhote de peixe-boi".
Durante a viagem de barco pelo lago, peço, encantado com a paisagem que se descortina, ao guia que conduz a rabeta: "Natanael, empreste-me os seus olhos. Diga-me o que está vendo na paisagem". Ele começa a lista: jacarés, garças, jaçanãs, trinta-réis, maguaris. Noto que se atém aos jacarés e às aves e que a sua mente, tendenciosa como todas as mentes, omitiu vários dos elementos dessa paisagem natural. Então acrescento na caderneta: peixes que boiam, peixes que saltam, arvoredo, relva fina nas margens, o horizonte infinito ao longe. E um elemento que se sabe estar lá apenas por se ouvi-lo: o bugio ou guariba. Esse pequeno macaco, que não chega a ultrapassar um metro de altura, emite em bando um berro alto e sonoro, que constitui a sua estratégia de defesa do território. Possui uma conformação especial na garganta, que amplifica em muito o som produzido. Anda em grupos de até oito indivíduos, sendo o berro mais alto produzido pelo macho alfa do bando. Chegamos a entrever vários desses bugios, bem como o esquivo macaco uacari, e também o mais comum macaco de cheiro, nas caminhadas pela mata.
Enquanto navegamos, noto vários buracos abertos nos barrancos marginais. São cavados nas cheias pelos cascudos, para neles fazerem a desova, explicam-me. Alguns ribeirinhos mergulham até esses buracos para coletar os ovos ou mesmo os peixes lá abrigados. Agora, na vazante, encontram-se expostos e obviamente vazios. Os sinais do regime de cheias e vazantes são entrevistos a cada metro navegado. Um indício dos mais marcantes são os troncos das árvores, especialmente da margem dos rios e do lago, nos quais se pode notar claramente delineadas a parte inferior mais escura, que é submersa nas cheias, e a parte superior mais clara. Nas cheias tudo o que ora considero "margem" é submerso, a água chega próxima das copas das árvores e formam-se os chamados igapós, caminhos fluviais por entre a parte exposta dessa vegetação.
O Lago Mamirauá pode atingir uma profundidade de até 40 metros nas cheias, que se reduz para 4 a 17 metros na vazante, período em que estamos. Nesta época do ano o recuo das águas forma praias de terra preta e lamacenta na beira do lago, que se tornam o local de repouso de dezenas e dezenas de jacarés. No final da tarde no lago, próximo do anoitecer, veem-se revoadas de andorinhas.
Retornamos à pousada já depois do por-do-sol. A navegação se torna um pouco diferente do que tinha experimentado até então. Enquanto o piloto - que, por alguma razão, em toda a Amazônia é conhecido como "piloteiro" - conduz atentamente a embarcação, o proeiro segue à frente com uma potente lanterna iluminando o rio. Mas ela não permanece acesa o tempo todo, como os faróis de um automóvel. O proeiro ilumina os obstáculos e desliga a lanterna, uma óbvia maneira de evitar que a luz excessiva "cegue" o piloto. E os principais obstáculos aqui são... jacarés. Os seus olhos, momentaneamente iluminados pela lanterna, brilham por onde se olhe. Enquanto isso, peixes saltam continuamente sobre as águas e seus saltos atingem tal altura que chegam a cair dentro da canoa.
A riqueza ambiental dessa região é protegida pelas próprias comunidades que a habitam. Faço ao guia a pergunta óbvia: "essa é uma das mais importantes reservas ecológicas da Amazônia. Mas eu não vejo aqui policiamento de ninguém, Ibama, nada. Como funciona isso?". Ele, então, me explica que são as comunidades as responsáveis pela vigilância e proteção da reserva. E descreve o que denomina "invasores": em geral são pessoas pobres, que carregam equipamentos e materiais durante horas, para as atividades ilegais de pesca ou caça. No final da jornada, são abordados pelos fiscais comunitários, têm os equipamentos apreendidos. Mas, destaca Natanael, em alguns casos são tão pobres que os fiscais têm "pena" de concretizar a apreensão. Em outros casos são obrigados a queimar tudo o que foi apreendido, à vista dos infratores, para que não se suponha que os próprios fiscais irão reutilizar os equipamentos.
Na minúscula comunidade de Novo Tapiira encontramos uma significativa expressão dessa proteção ambiental exercida pela população local. Ovos de corta-águas, trinta-réis (gaivotas) e tartarugas depositados nas praias do rio Japurá são cuidadosamente monitorados e protegidos pelas pessoas da comunidade, que chegam a designar um deles para passar a noite em vigilância, de forma a impedir a ação dos coletores de ovos. Adriano, professor na escola infantil local e principal responsável por essa iniciativa, discorre sobre as ações de proteção, enquanto pega nas mãos carinhosamente um dos filhotes, que acabou de sair do ovo e repousa na areia quente. Relata-me ele que essa comunidade de 17 famílias, com predominância da etnia cocama, já se mudou de lugar três vezes, em decorrência da ação das águas.
Os dias passados na região incluem diversas atividades. Caminhadas diurnas pela floresta, com observação de árvores, plantas pequenas, mamíferos, aves e insetos. Uma simulação de pescaria. Uma caminhada noturna pela floresta, experiência muito interessante de exercício da audição dos sons da mata sem luz. Uma navegação de canoa, a remo, pelo assim chamado "cano", isto é, um imenso duto natural, largo e volumoso, a carrear continuamente água para o Lago Mamirauá.
A visita a esse lago constitui o ponto alto da experiência. Ele é, de certa forma, o elemento central dessa região, o seu mais valioso repositório de fauna e flora e, por isso mesmo, o ponto focal das ações do Instituto Mamirauá. O nome indígena significa, a propósito, segundo informa um dos guias locais, "mãe e filhote de peixe-boi".
Durante a viagem de barco pelo lago, peço, encantado com a paisagem que se descortina, ao guia que conduz a rabeta: "Natanael, empreste-me os seus olhos. Diga-me o que está vendo na paisagem". Ele começa a lista: jacarés, garças, jaçanãs, trinta-réis, maguaris. Noto que se atém aos jacarés e às aves e que a sua mente, tendenciosa como todas as mentes, omitiu vários dos elementos dessa paisagem natural. Então acrescento na caderneta: peixes que boiam, peixes que saltam, arvoredo, relva fina nas margens, o horizonte infinito ao longe. E um elemento que se sabe estar lá apenas por se ouvi-lo: o bugio ou guariba. Esse pequeno macaco, que não chega a ultrapassar um metro de altura, emite em bando um berro alto e sonoro, que constitui a sua estratégia de defesa do território. Possui uma conformação especial na garganta, que amplifica em muito o som produzido. Anda em grupos de até oito indivíduos, sendo o berro mais alto produzido pelo macho alfa do bando. Chegamos a entrever vários desses bugios, bem como o esquivo macaco uacari, e também o mais comum macaco de cheiro, nas caminhadas pela mata.
Enquanto navegamos, noto vários buracos abertos nos barrancos marginais. São cavados nas cheias pelos cascudos, para neles fazerem a desova, explicam-me. Alguns ribeirinhos mergulham até esses buracos para coletar os ovos ou mesmo os peixes lá abrigados. Agora, na vazante, encontram-se expostos e obviamente vazios. Os sinais do regime de cheias e vazantes são entrevistos a cada metro navegado. Um indício dos mais marcantes são os troncos das árvores, especialmente da margem dos rios e do lago, nos quais se pode notar claramente delineadas a parte inferior mais escura, que é submersa nas cheias, e a parte superior mais clara. Nas cheias tudo o que ora considero "margem" é submerso, a água chega próxima das copas das árvores e formam-se os chamados igapós, caminhos fluviais por entre a parte exposta dessa vegetação.
O Lago Mamirauá pode atingir uma profundidade de até 40 metros nas cheias, que se reduz para 4 a 17 metros na vazante, período em que estamos. Nesta época do ano o recuo das águas forma praias de terra preta e lamacenta na beira do lago, que se tornam o local de repouso de dezenas e dezenas de jacarés. No final da tarde no lago, próximo do anoitecer, veem-se revoadas de andorinhas.
Retornamos à pousada já depois do por-do-sol. A navegação se torna um pouco diferente do que tinha experimentado até então. Enquanto o piloto - que, por alguma razão, em toda a Amazônia é conhecido como "piloteiro" - conduz atentamente a embarcação, o proeiro segue à frente com uma potente lanterna iluminando o rio. Mas ela não permanece acesa o tempo todo, como os faróis de um automóvel. O proeiro ilumina os obstáculos e desliga a lanterna, uma óbvia maneira de evitar que a luz excessiva "cegue" o piloto. E os principais obstáculos aqui são... jacarés. Os seus olhos, momentaneamente iluminados pela lanterna, brilham por onde se olhe. Enquanto isso, peixes saltam continuamente sobre as águas e seus saltos atingem tal altura que chegam a cair dentro da canoa.
A riqueza ambiental dessa região é protegida pelas próprias comunidades que a habitam. Faço ao guia a pergunta óbvia: "essa é uma das mais importantes reservas ecológicas da Amazônia. Mas eu não vejo aqui policiamento de ninguém, Ibama, nada. Como funciona isso?". Ele, então, me explica que são as comunidades as responsáveis pela vigilância e proteção da reserva. E descreve o que denomina "invasores": em geral são pessoas pobres, que carregam equipamentos e materiais durante horas, para as atividades ilegais de pesca ou caça. No final da jornada, são abordados pelos fiscais comunitários, têm os equipamentos apreendidos. Mas, destaca Natanael, em alguns casos são tão pobres que os fiscais têm "pena" de concretizar a apreensão. Em outros casos são obrigados a queimar tudo o que foi apreendido, à vista dos infratores, para que não se suponha que os próprios fiscais irão reutilizar os equipamentos.
Na minúscula comunidade de Novo Tapiira encontramos uma significativa expressão dessa proteção ambiental exercida pela população local. Ovos de corta-águas, trinta-réis (gaivotas) e tartarugas depositados nas praias do rio Japurá são cuidadosamente monitorados e protegidos pelas pessoas da comunidade, que chegam a designar um deles para passar a noite em vigilância, de forma a impedir a ação dos coletores de ovos. Adriano, professor na escola infantil local e principal responsável por essa iniciativa, discorre sobre as ações de proteção, enquanto pega nas mãos carinhosamente um dos filhotes, que acabou de sair do ovo e repousa na areia quente. Relata-me ele que essa comunidade de 17 famílias, com predominância da etnia cocama, já se mudou de lugar três vezes, em decorrência da ação das águas.













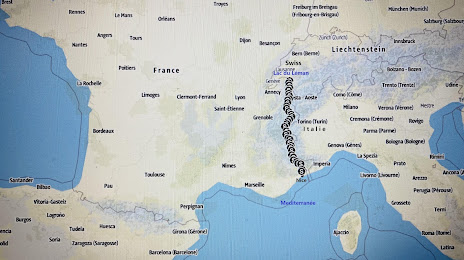


Comentários
Postar um comentário