Relatos amazônicos 5 - Comunidades indígenas
As
três canoas descem o rio Negro levadas a remo, conduzindo o grupo de
viajantes e uma caixa de isopor com comida e água. Serão três
praias fluviais a serem visitadas, superfícies de areia formadas com
o recuo das águas do rio nesta época de vazante. Na volta, para
subir o rio, os canoeiros ligam os motores. Cada canoa é equipada
com um pequeno motor na popa, o que me lembra as “rabetas” do São
Francisco.
Esta
é a manhã do segundo dia na comunidade indígena de Boa Vista do
Rio Negro. Trata-se de um núcleo de 17 famílias da etnia baré que habitam um espaço na margem direita do rio, de onde se tem uma
bela paisagem das águas e das elevações que formam a Serra de
Tapuruquara. Dessa posição privilegiada quanto à paisagem, veio o
nome da comunidade. Na vazante é exposto um largo afloramento
rochoso, uma espécie de laje, que serve como porto rudimentar,
local de banho e ponto de lavagem de roupas e de diversão.
Passo
por uma sensação estranha nesta manhã. A superfície
infinita das águas, o sol a brilhar incessantemente no céu sem
nuvens, o isolamento deste lugar perdido na margem de um rio
amazônico, rio este por sua vez definidor de um espaço de ocupação
humana nos confins ocidentais do Brasil, tudo isso acentua em mim
aquela tendência a mergulhar no vazio da alma até chegar próximo à
despersonalização. Essa tendência, que me persegue
incessantemente, agiganta-se com a imensidão do rio, a rusticidade
do lugar e o isolamento em que me encontro. Sinto-me então, nesses
momentos, como que intoxicado pela liberdade, como se me fosse
oferecido um volume extra de oxigênio de alta concentração, que
alimenta mas também tonteia – e pode me levar a perder-me
irreversivelmente de mim mesmo.
Na
tarde do mesmo dia recupero a centralidade. Um dos moradores, José
Ribamar, apelidado “Banana”, me leva a conhecer as casas da
comunidade. O professor, que aqui reside há dois anos; a professora,
nascida na comunidade; o catequista, cuja esposa salga um porco do
mato caçado alguns dias atrás. As casas são estruturas construídas
com madeira e palha de palmeira. Algumas são palhoças, isto é,
completamente feitas de palha, inclusive as paredes. Outras
apresentam toscas cumeeiras de zinco, sendo o restante no padrão
local de madeira e palha. A única construção de alvenaria é a
escola municipal, equipada com três banheiros, mas sem água
corrente.
A
mandioca e o peixe são a base da alimentação local. A primeira é
preparada das mais diversas formas, desde a tapioca assada até o
xibé, bebida simples preparada com água e farinha de mandioca. Os
peixes são vários, moqueados, fritos ou cozidos.
Aqui
vivem 17 famílias, pessoas extremamente rústicas, simples e
alegres. Apesar da timidez, olham-nos invariavelmente com um sorriso
nos lábios, os olhos pretos e brilhantes anunciando cordialidade e
paz interior.
Na
noite da nossa chegada a comunidade fez uma apresentação de dança
indígena num espaço aberto de chão de terra. Chamam a esse
festejo “Festa do Dabacuri”. Vestem-se com trajes típicos e
organizam-se em pares, formando uma fila circular. Iniciam então uma
dança ritualística, de ritmo hipnótico, que consiste em andar e
correr cada vez mais rápido, homem e mulher abraçados. Os homens
batem no chão com paus verdes semelhantes a grossos bambus, denominados tabocas, que produzem
um som cavo. A esse som se soma o ruído do batido dos pés no chão,
que se torna paulatinamente mais e mais forte. Atrás da fila um
homem velho, depositário dos saberes da comunidade, vai entoando um
canto monocórdico, quase gutural, que orienta a dança. Alguns do
nosso gupo aderem a esse cativante bailado indígena.
O
rio é tudo para essas comunidades. Nele se pesca, dele se bebe a
água, nele se nada, nas suas águas se lavam roupas e vasilhas, dele
se capta água para uso doméstico, por ele se desloca de um lugar a
outro. Nele as crianças se divertem a todo o tempo e
rapidamente nos apercebemos da força e destreza dos meninos, que
entram nas águas por vezes turbulentas montados em pequenas e
rústicas canoas, equipados com apenas dois remos. Nós, que não
ousamos nos afastar da margem nos banhos de rio,
avistamos então, ao longe, a canoazinha carregando dois meninos a cruzar
intrépida as águas nervosas.
A
propósito, o grupo de viajantes rapidamente adere aos hábitos
locais. O banho de rio, os folguedos nas praias, a dança, o vólei,
o futebol e, principalmente, a dieta de peixe e mandioca, logo passam
a fazer parte do cotidiano dos visitantes.
Na
manhã do terceiro dia em Boa Vista, a comunidade se despede
calorosamente de nós no barranco que margeia o rio. Essas cerimônias
de recepção e despedida, bem como as orações antes do almoço e
da janta, são frequentes durante a viagem. Nas três comunidades que
visitamos, e também na grande maioria das comunidades indígenas
amazônicas, os moradores são festivos e marcadamente católicos.
O
nosso destino então é um acampamento montado na margem esquerda de
um enorme igarapé, de nome Alborá, pertencente ao território da
comunidade Uábada II. Eu havia conhecido um pequeno igarapé – um
curso de água que nasce na mata e deságua num rio maior – na
viagem à região do Tapajós. Mas o Alborá foi uma surpresa. Esse
curso de água, largo e volumoso, maior do que muitos rios que
conheço no Sudeste e Nordeste, percorre uma região de mata densa.
Não há sinais de ocupação humana nas margens. A natureza é
exuberante. Enquanto a rabeta sobe o igarapé – pois viajamos em
simples rabetas, espremidos dois a dois ou três a três, sem nos
mexer – observo maravilhado a riqueza natural do lugar. E constato
que as águas puras desse igarapé e as suas margens repletas de
verde intocado pelo homem são um dos pontos altos do meu périplo
pela Amazônia.
Os
olhos do piloto são tudo na viagem fluvial. Segurando firmemente o
manche ligado ao motor de popa, ele segue atento, procurando
continuamente, sob a superfície das águas, o canal mais profundo, aquilo que Henrique Halfeld, no século XIX, conhecia como talvegue.
As águas são verde escuro como as do rio principal, o Negro, e o
leigo, como eu, não sabe como esse canal pode ser encontrado sob a
massa de água escura. E é notório que muitas vezes o talvegue
está onde menos se poderia esperar, bem próximo de uma das margens
do rio, longe do seu centro.
Pois
é decisivo saber onde está o talvegue. Neste período de vazante, o
risco da navegação são os trechos encachoeirados, aqueles pontos
em que os afloramentos rochosos do leito do rio estão
traiçoeiramente quase na superfície. Formam-se assim cachoeiras,
denunciadas pela espuma e pelas bolhas visíveis na superfície.
Alguns desses trechos perigosos são cruzados com maestria pelo
piloto e, segundo me informa um deles, a rabeta passa com “água no
joelho”, isto é, num canal que tem menos de um metro de
profundidade. Avança-se contra a correnteza e acima das pedras com o
motor em baixa rotação, a hélice suspensa para que não se choque
com as rochas, a embarcação esgueirando-se cuidadosamente.
Em
outros trechos é impossível a transposição convencional. As
pedras estão expostas na superfície, formando cachoeiras e
bloqueando a passagem. Então é preciso fazer o que parece
impossível. As embarcações encostam na margem; os passageiros
descem e a carga é retirada. Esvaziadas as rabetas e a lancha, os
barqueiros entram então na água e empurram as embarcações rio
acima, usando braços, pernas e cordas. As embarcações são assim
praticamente guindadas sobre as pedras. Ultrapassado o trecho
encachoeirado, os passageiros, que caminharam pela margem no sentido
do transporte, e a carga, também levada pela margem, são
reembarcados e a viagem segue. Isso ocorre três vezes durante a
jornada.
Antes
de chegar ao acampamento fazemos uma rápida parada numa praia na
margem esquerda do igarapé. Os organizadores, da comunidade de
Uábada II, reuniram ali algumas pessoas, que nos oferecem uma
pequena recepção.
Um
menininho, terá entre 3 e 4 anos, brinca sentado na areia, ao lado
da mãe. Aproximo-me e o olho diretamente. Ele não devolve o olhar
direto. Mira-me de baixo para cima, erguendo um pouco o rosto. As
mãos permanecem na areia com que brincava.
Enquanto
o rosto permanece parcialmente inclinado para baixo, os olhos se
fixam em mim, mas de uma maneira enviesada, oblíqua. As íris pretas
ocupam a metade superior dos olhos, semi-ocultas pelas pálpebras,
enquanto na metade inferior bóia um branco límpido. Há uma
infinita desconfiança e bloqueio naquele olhar. As feições se
mantêm duras, fechadas. “Autismo? Ou apenas uma timidez extrema?”,
conjeturo. Como os índios do passado tratariam uma diferença como
essa? Um espírito maligno? Ou alguém dotado de poderes especiais?
Num
estalo a mente faz a associação com Pedro. “Mas Pedro era o
oposto”, rebato-me, “predisposto demais ao contato, com poucas
inibições sociais”.
Afasto-me.
A mãe me olha calmamente. Sinto que o olhar oblíquo do menino, sem
me acompanhar enquanto me distancio, registra que não sou mais uma
ameaça ao mundo interior em que estará, talvez, para sempre preso.
Chegamos
no início da tarde ao acampamento armado na margem esquerda do
igarapé. Faz um calor úmido e denso, do qual não há como fugir. O
acampamento é uma estrutura simples de estacas de madeira e teto de
palha, sob a qual se armam as redes em que dormiremos. A bagagem do
grupo foi reduzida, tendo o principal seguido para a terceira
comunidade a ser visitada, Cartucho, na lancha dos organizadores
índios. Conosco restaram as mochilas de “ataque”, isto é, as
poucas roupas, materiais e equipamentos necessários à subida da
Serra Yakaweni, que é o nosso objetivo nesta etapa.
Essa
serra é na realidade um dos seis cerros que formam as chamadas Serras Guerreiras de Tapuruquara. São morros
baixos que se destacam na paisagem plana da região. Segundo a crença
indígena, esses cerros foram no passado imemorial pessoas, que
avançaram pela região com finalidade de guerra.
Devido
ao caráter sagrado dos morros, houve discussão nas comunidades
sobre a conveniência ou não de se incluí-los no roteiro turístico.
Algumas pessoas argumentaram que as serras são sagradas e subi-las
seria uma profanação, punida com castigos tais como temporais. Foi
vitoriosa a posição favorável à inclusão das serras no roteiro.
Há muitos anos, ouvi o mesmo dos aborígines australianos sobre a Rocha Uluru, um enorme maciço cravado no centro do deserto. Esse monolito, de quase 900 metros de altura, constitui a única elevação na vastidão do deserto australiano e é por isso considerado sagrado pelos aborígenes, que nunca permitiram a sua escalada. O mesmo se dava com o Everest, sagrado e jamais escalado pelos sherpas, até que alpinistas britânicos começaram a tentar fazê-lo, a partir do início do século XX.
Há muitos anos, ouvi o mesmo dos aborígines australianos sobre a Rocha Uluru, um enorme maciço cravado no centro do deserto. Esse monolito, de quase 900 metros de altura, constitui a única elevação na vastidão do deserto australiano e é por isso considerado sagrado pelos aborígenes, que nunca permitiram a sua escalada. O mesmo se dava com o Everest, sagrado e jamais escalado pelos sherpas, até que alpinistas britânicos começaram a tentar fazê-lo, a partir do início do século XX.
Para
subir as Serras de Tapuruquara há alguns preceitos, que devem ser cumpridos por todos, e
nos são repassados detalhadamente no acampamento. Antes da subida
deve-se lavar o rosto e bochechar com água do rio. Mulheres menstruadas
são proibidas de subir. Se a pessoa estiver suada – o que,
evidentemente, é uma condição quase absoluta de quem percorre a
região –, deve tomar banho. Antes de subir a serra, somos benzidos
pela mulher do pajé, por meio de baforadas de cigarro artesanal
sopradas em direção ao corpo de cada um de nós.
Também
o igarapé e os demais rios são respeitados. Antes de se banhar nas
águas do igarapé, o visitante deve deixar uma oferenda para a
“velha”, a entidade que guarda o rio. Deixamos
então sobre uma grande pedra alguns comestíveis como oferenda à “velha”.
E
ainda outros preceitos místicos, tais como não deixar que a água
das panelas ferva até “passar”, isto é, transbordar. Não se pode jogar água quente no rio; isto é, água que tenha sido aquecida nos toscos fogões montados a beira-rio. Não se
pode deixar o peixe queimar enquanto é assado. E, por fim, não se
pode comer comida “mal esquentada”, ou seja, fria.
Conduzidos
pelos guias índios, adentramos a mata em direção ao topo de
Yakaweni. São algumas horas de caminhada, durante as quais é
percorrido um espaço de grande beleza, formado por rica vegetação,
córregos e regatos e afloramentos rochosos. Na primeira parte da
caminhada sigo próximo do batedor, isto é, do guia que vai à
frente com o facão. Observo-o avançar e de vez em quando faço uma
pergunta sobre alguma árvore de maior porte; todavia, diferentemente
da experiência que tive na Floresta Nacional dos Tapajós, esse guia
não era especialmente versado nas plantas da região.
Na
segunda parte, na volta do topo em direção ao acampamento, opto por
fazer o contrário, isto é, seguir próximo ao último homem da fila
indiana. Rosemiro, o “Professor”, leciona em duas escolas
públicas e é o responsável pelo projeto de turismo comunitário na
sua comunidade de Uábada II. É ele quem detalha para mim a divisão
de funções na viagem fluvial e na estada no acampamento na mata. Os
proeiros conduzem passageiros e carga nas rabetas e na lancha. Os
bagageiros cuidam das bagagens principais dos passageiros,
especialmente nas travessias fluviais, quando se tem que
descarregá-las e recarregá-las rio acima, nas travessias de trechos
encachoeirados. Os cozinheiros encarregam-se de tudo relacionado à
alimentação dos viajantes, desde providenciar os alimentos até
cozinhá-los e servi-los em pratos simples.
Nas
três comunidades que visitamos pudemos notar hábitos peculiares no
que diz respeito à manipulação dos alimentos, que diferem inteiramente das nossas
práticas urbanas. Durante as refeições os grupos são divididos;
os visitantes comem primeiro, depois os locais. Quando é a sua vez de comer, esses últimos utilizam os
mesmos pratos em que os primeiros comeram, sem lavá-los. O mesmo
ocorre com os copos e canecas. Não se lavam as mãos antes das
refeições, mas em Uábada II uma bacia com um volume bem pequeno de
água e detergente foi deixada na cozinha para lavarmos as mãos
depois da refeição – parece que estavam preocupados com a
gordura do peixe nas mãos. Quando servidos em panelas, os deliciosos
sucos vêm com uma cuia; nela pegam sucessivamente todos os que se
servem do líquido; após se servir em copos ou canecas, cada um
deixa novamente a cuia a boiar na panela. Alguém pode também,
eventualmente, se servir diretamente da cuia, devolvendo-a à panela
depois disso. Trata-se claramente de um antigo hábito indígena. Posteriormente lerei num painel no Museu da Amazônia, em Manaus, que a bebida conhecida como caxiri é bebida em cuias que nas festas passam de uma pessoa a outra.
O
hábito de servir os visitantes antes dos locais é geral. Aplica-se
tanto a nós, turistas, quanto a comunidades vizinhas ou parentes que
se visitem entre si. É muito provável que seja também esse um resquício
dos antigos hábitos indígenas.
Nas
três comunidades as necessidades fisiológicas são feitas no mato
ou no rio. Não há fossas nas casas. Em Cartucho há fossas na
escola pública, no centro de saúde e no alojamento que ocupamos.
Todavia, no alojamento não há água corrente no lavatório e no
vaso sanitário. Indago de Jaciel, o índio baré que coordena
regionalmente o projeto, sobre possíveis ações dos órgãos de
saúde pública no tocante a ações de saneamento. Mas a resposta é
negativa. Um pouco constrangido, me diz que se limitam a orientar os
moradores para que façam as necessidades longe da área em que estão
as habitações.
Cartucho
é uma comunidade de 49 famílias. Está localizada, juntamente com
Uábada II, numa grande ilha do Rio Negro, denominada Uábada.
Disseram-me na região que essa ilha mede aproximadamente 30
quilômetros de comprimento por 5 a 10 de largura, números que necessitariam verificação mais precisa.
As
casas de Cartucho são na sua maioria de madeira, com teto de palha
ou zinco, registrando-se uma ou outra estrutura de alvenaria. Não
vejo nenhuma palhoça, isto é, casa inteiramente de palha, como pude
observar em Boa Vista. Indago a um morador do porquê do uso do
zinco, que aumenta consideravelmente o calor no interior da habitação, em
relação à palha. Diz-me que a palha de caranã está cada vez mais
escassa. Posteriormente me informarão que também as palhas de curuá
e sororoca são utilizadas como cobertura das casas.
Um
atracadouro bastante simples foi improvisado à beira-rio, cavando-se
o barranco marginal ao rio de modo a formar uma concavidade onde as
embarcações encostam. Há um ponto de internet na escola municipal
local. Como nas outras duas comunidades, a energia elétrica é
provida por um gerador alimentado a gasolina.
O
dia seguinte ao da nossa chegada a Cartucho é o da subida à Serra
Jacuruaru. Mais uma vez, trata-se de um morro baixo, uma das
elevações que formam as Serras Guerreiras de Tapururuquara. Uma
curta caminhada leva a um largo afloramento rochoso, de inclinação
mais ou menos uniforme, de onde se pode divisar uma paisagem de
grande beleza, formada pelas águas do Rio Negro, uma pequena ilha
arborizada, as demais serras e, ao fundo, o horizonte infinito.
Nessa
caminhada somos acompanhados por crianças locais. Há na realidade
um deslocamento de pessoas da comunidade, talvez excessivo, que
acompanham eventos como esse. Alguns são guias nas trilhas, outros
responsáveis pela “merenda”, isto é, pelos alimentos locais
servidos durante as caminhadas. E levam os filhos. Essas crianças, espertas e interativas, divertem-se a valer. Enquanto descemos cautelosamente um trecho inclinado do caminho, calçados com
as nossas modernas botas de trekking, os meninos e meninas
usam as folhas secas da trilha escorregadia para deslizarem ladeira
abaixo, calçados apenas com chinelos de dedo. Aliás, em nenhuma das
caminhadas pela mata, seja na região do Tapajós, seja aqui no Rio
Negro, vi guias e acompanhantes locais com calçados fechados. Nem
mesmo uma sandália ou similar. Invariavelmente calçam chinelos de
dedo.
Concluída
a caminhada, levam-nos a uma praiazinha, para o banho de rio e a
merenda. Para onde se olhe, em torno da praia e da pedra vizinha,
estão as águas do Rio Negro.
No último dia em Cartucho, alguns de nós fazem uma rápida caminhada pela floresta. Nesta região a mata fornece uma infinidade de recursos alimentares, medicinais e construtivos, sem os quais seria impossível a vida. Retirada uma pequena porção da vegetação, forma-se uma capoeira, onde serão plantadas as roças de mandioca, cará e de frutos como o cubiu, abacaxi, biribá e tucumã. O açaí e a bacaba, que brotam no topo de árvores muito altas, são extraídos pelo sistema conhecido como pecunha. Utiliza-se o cipó embira e uma folha da sororoca, árvore muito parecida com a bananeira (que todavia não fornece frutos), para se improvisar uma amarração por meio da qual se sobe pela árvore até o almejado fruto. Da árvore matamatá se tiram fibras para a confecção de saias femininas. E do bacatão se extrai a dura e resistente madeira utilizada na construção de casas.
No último dia em Cartucho, alguns de nós fazem uma rápida caminhada pela floresta. Nesta região a mata fornece uma infinidade de recursos alimentares, medicinais e construtivos, sem os quais seria impossível a vida. Retirada uma pequena porção da vegetação, forma-se uma capoeira, onde serão plantadas as roças de mandioca, cará e de frutos como o cubiu, abacaxi, biribá e tucumã. O açaí e a bacaba, que brotam no topo de árvores muito altas, são extraídos pelo sistema conhecido como pecunha. Utiliza-se o cipó embira e uma folha da sororoca, árvore muito parecida com a bananeira (que todavia não fornece frutos), para se improvisar uma amarração por meio da qual se sobe pela árvore até o almejado fruto. Da árvore matamatá se tiram fibras para a confecção de saias femininas. E do bacatão se extrai a dura e resistente madeira utilizada na construção de casas.
Além do português, falado por todos, muitos índios falam também o nheengatu, a língua geral, criada pelos jesuítas no período colonial como forma de comunicação entre índios e colonizadores portugueses. Em várias ocasiões ouvimos os moradores das comunidades falarem entre si em nheengatu, para evitar que entendêssemos o que estavam dizendo. Essa língua, que no período colonial se tornou a língua majoritariamente falada pelos índios brasileiros, predominou na Amazônia até o século XVIII e mantém-se ativa até hoje entre os povos amazônicos. Há estudiosos que afirmam que até 1877 a língua geral foi mais falada do que o português na região, inclusive em cidades como Belém e Manaus. Nesse ano uma grande seca levou à migração de milhares de nordestinos para a Amazônia, com o que o português passou a ser predominante.
O que se come nas comunidades indígenas do Rio Negro (limitado ao que nos foi servido nos dias passados nas comunidades)
Tapioca
Banana frita
Cará
Sucos: abacaxi, caju, limão, cucura, maracujá
Peixes: surubim, mandubé, pirandira, privora, jacundá, aracu, cará, traíra, tucunaré, piranha, piraíba, pacu, pirandiba. Os peixes são preparados cozidos em água com temperos, assados ou moqueados. Quando assados, são previamente enrolados em folhas de sororoca.
Jacaré
Tapioquinha frita
Beiju
Farinha de mandioca
Mingau de goma de tapioca
Mingau de banana
Bolinho de tapioca
Cozido de peixe moqueado
Xibé: bebida feita de farinha e água e tomada rotineiramente, inclusive nas horas de trabalho
Pimenta murupi
Biribá (fruta)
Tucumã (fruta)
Salada de cubiu (fruta)
Curadá: goma de mandioca assada
Além desses, os moradores relataram o hábito de se alimentarem também de carne de porco do mato e de paca, caçados na mata.
Por impedimento legal, não podem ser divulgadas fotos frontais que permitam a identificação de indivíduos pertencentes a populações indígenas.


















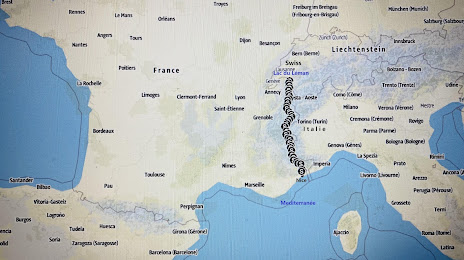


Comentários
Postar um comentário