Relatos peruanos 3 - Arequipa. Trekking pelo Vale do Colca
Arequipa, a metrópole de um milhão de pessoas no sul do Peru, era para nós uma incógnita. "Cidade cercada de favelas", alguém havia comentado. "A cidade mais bela do Peru, a cidade branca", havia lido, por outro lado, em blogues de viagem. À medida que o táxi deixava a região da estação rodoviária e adentrava a zona histórica, pressentíamos que a segunda opinião seria a mais fiel a essa imponente cidade.
Centrado na Praça de Armas, o núcleo histórico de Arequipa se estende por várias ruas, nas quais se distribuem belos exemplares da arquitetura local. Predominam as edificações feitas com silhar, a pedra lavrada em formato quadrangular.
Contemplamos admirados a arquitetura colonial da cidade, constituída por edificações monumentais, como a Basílica Catedral e o Monastério Santa Catalina, defronte do qual, a propósito, estamos hospedados. Lamentavelmente não chegamos a visitar o interior da Basílica e nem do Monastério. Mas mesmo o nosso hotel é um belo exemplar dessa arquitetura colonial: uma edificação de paredes grossas, piso antigo, com jardins interiores e partes em madeira maciça.
Caminhamos em torno da majestosa Praça de Armas, acompanhando o fluxo de pessoas que se movimenta por baixo das belas arcadas. E percorremos os restaurantes e cafés das imediações, cada um deles com um estilo próprio. "Parece que estamos numa cidade da Europa...", extasia-se Brito.
No dia seguinte saímos da zona histórica para uma volta pelo centro comum da cidade. Era um domingo tranquilo, as ruas quase sem trânsito, poucas pessoas nas calçadas. Eu me sentia muito bem. Na noite anterior havia sonhado que me encontrava com uma mulher negra, bela, sensual, num lugar inusitado: no alto de uma estrutura de madeira, próximo do teto, como um andaime. Surpreendentemente, ela vinha acompanhada de uma criança. Burilava o sonho enquanto caminhava: "Imagine, Brito, que essa mulher existe em algum lugar do mundo e na noite passada teve o mesmo sonho, porém com sinal trocado. E ela está lá, nesse lugar, pensando em mim da mesma forma com que penso nela. E por isso podemos nos encontrar um dia". Brito sorria levemente, algo entediado com as minhas ideias pueris.
Não me deixei abater pelo ar cético do companheiro e persisti na viagem onírica: "Há muito tempo li em algum lugar que um certo povo indígena acreditava que tudo o que consideramos como 'mundo real' é na realidade um sonho. O que constitui a realidade é o que é sonhado. Por isso esse povo dorme o mais que possível".
Entramos no mercado da cidade. Circulamos pelas bancas de alimentos frescos. Eu, animado, continuava: "Há muitos e muitos anos, Brito, li um conto de Cortázar no qual um homem branco de meia idade, barbudo, viajava de trem entre duas cidades europeias. Ele adormecia na poltrona e sonhava. No seu sonho um 'selvagem' corria por uma trilha numa mata indefinida, perseguindo um animal. Alcançava o animal e lutava com ele. Vencia-o e matava-o. O final do conto é uma reviravolta surpreendente. Um homem seminu, forte, corria por uma mata indefinida, matava um animal e se deitava para descansar. Sonhava então com um homem muito branco, com pelos na cara, que era carregado por um animal estranho, semelhante a uma imensa cobra, que corria com o barulho de um trovão e guinchava de vez em quando. Quem era real, Brito, era o homem da mata. O viajante barbudo era apenas a sua produção onírica".
Contemplamos admirados a arquitetura colonial da cidade, constituída por edificações monumentais, como a Basílica Catedral e o Monastério Santa Catalina, defronte do qual, a propósito, estamos hospedados. Lamentavelmente não chegamos a visitar o interior da Basílica e nem do Monastério. Mas mesmo o nosso hotel é um belo exemplar dessa arquitetura colonial: uma edificação de paredes grossas, piso antigo, com jardins interiores e partes em madeira maciça.
Caminhamos em torno da majestosa Praça de Armas, acompanhando o fluxo de pessoas que se movimenta por baixo das belas arcadas. E percorremos os restaurantes e cafés das imediações, cada um deles com um estilo próprio. "Parece que estamos numa cidade da Europa...", extasia-se Brito.
No dia seguinte saímos da zona histórica para uma volta pelo centro comum da cidade. Era um domingo tranquilo, as ruas quase sem trânsito, poucas pessoas nas calçadas. Eu me sentia muito bem. Na noite anterior havia sonhado que me encontrava com uma mulher negra, bela, sensual, num lugar inusitado: no alto de uma estrutura de madeira, próximo do teto, como um andaime. Surpreendentemente, ela vinha acompanhada de uma criança. Burilava o sonho enquanto caminhava: "Imagine, Brito, que essa mulher existe em algum lugar do mundo e na noite passada teve o mesmo sonho, porém com sinal trocado. E ela está lá, nesse lugar, pensando em mim da mesma forma com que penso nela. E por isso podemos nos encontrar um dia". Brito sorria levemente, algo entediado com as minhas ideias pueris.
Não me deixei abater pelo ar cético do companheiro e persisti na viagem onírica: "Há muito tempo li em algum lugar que um certo povo indígena acreditava que tudo o que consideramos como 'mundo real' é na realidade um sonho. O que constitui a realidade é o que é sonhado. Por isso esse povo dorme o mais que possível".
Entramos no mercado da cidade. Circulamos pelas bancas de alimentos frescos. Eu, animado, continuava: "Há muitos e muitos anos, Brito, li um conto de Cortázar no qual um homem branco de meia idade, barbudo, viajava de trem entre duas cidades europeias. Ele adormecia na poltrona e sonhava. No seu sonho um 'selvagem' corria por uma trilha numa mata indefinida, perseguindo um animal. Alcançava o animal e lutava com ele. Vencia-o e matava-o. O final do conto é uma reviravolta surpreendente. Um homem seminu, forte, corria por uma mata indefinida, matava um animal e se deitava para descansar. Sonhava então com um homem muito branco, com pelos na cara, que era carregado por um animal estranho, semelhante a uma imensa cobra, que corria com o barulho de um trovão e guinchava de vez em quando. Quem era real, Brito, era o homem da mata. O viajante barbudo era apenas a sua produção onírica".
***
São apenas 3 horas da manhã e já estou sentado na recepção do belo hotel de Arequipa, aguardando a chegada da van que me levará até o início da trilha pelo Vale do Colca. Porto as duas mochilas - a maior, com a bagagem em geral, e a menor, que preparei para a caminhada de dois dias. Um homem entra e anuncia o meu nome. Sigo-o pela rua escura até a van estacionada na esquina. Dentro já estão vários turistas. O veículo circula ainda durante uns 30 minutos pelo centro da cidade, coletando turistas em hotéis e hostales para a viagem ao vale. Enfim, por volta de 3 horas e meia, pega a longa estrada.
A primeira parada é Chivay, pueblo de 9 mil habitantes, considerado a "capital" do Vale do Colca. Essa vila cresceu devido à movimentação turística, especialmente quando não existia a estrada asfaltada e os tours pela região levavam no mínimo duas noites, passadas no povoado. Num restaurante do povoado é servido o café da manhã. Os turistas ocupam grandes mesas numa sala ampla. Do outro lado da mesa um rapaz oriental me fita com os belos olhos puxados; o seu olhar traduz silenciosamente a palavra "interação". "Wh... ar from?", me diz num inglês quase ininteligível. "Brasil", respondo. Ele comenta algo, dividindo com o colega ao lado, sobre um jogo de futebol que teria ocorrido. "And you?", pergunto. "South Corea". "Are you going to trek?", pergunto. "No, only full day. Full day". Essa expressão, no jargão das agências de turismo, refere-se aos turistas que passam apenas um dia no lugar visitado, saindo de madrugada e retornando de noite ao hotel.
Na realidade todas as pessoas que estão na van farão o programa "full day", isto é, não farão a caminhada de dois dias. Interrogo o guia, o mesmo homem que me buscara na recepção do hotel. "Está tudo bem, não se preocupe", responde-me. Mas apesar da resposta tranquilizadora, noto que fala ao celular sobre a minha situação, ou seja, sobre o transtorno que representa as agências colocarem na mesma van pessoas que vão para programas diferentes.
Chegamos ao mirador Cruz del Condor, onde os turistas se reúnem para apreciar os voos dessa ave silenciosa. O guia apressadamente me retira da van e me coloca em outro veículo. Pede que me levem ao encontro do seu colega, o guia de trekking. Há um esboço de recusa, ele insiste. Sigo na nova van. Também ali não parece haver ninguém do grupo que fará a caminhada.
A van para no ponto terminal da região, uma estrutura de madeira e teto de palha, tendo ao lado um minúsculo comércio, mantido por uma andina. O veículo vai-se embora e fico ali, no meio do terceiro grupo em que entro nessa manhã movimentada. "Espere por Franz, espere por Franz", me disseram laconicamente os guias quando perguntei sobre a minha situação. Permaneço por ali, sem saber exatamente o que ocorreria. Vou até a barraquinha, pergunto à andina se acaso possuiria um bastão para vender ou alugar. Ela me mostra, encostados na cerca, o que para mim é uma novidade: bastões de bambu. São leves e grossos e aplicam-se bastante bem à caminhada. Compro um por três soles.
Finalmente chega o guia, Franz. Ele me apressa; estão todos me esperando e a minha demora provocara um atraso de meia hora no início da caminhada. Andamos até o ponto onde o grupo aguarda, passo rapidamente pelas pessoas, enquanto o guia me instrui a deixar a mochila grande com um homem que cuidava de um espaço na beira da estrada. Não entendo muito bem; supunha que a mochila grande ficaria abrigada numa van, à espera do fim da caminhada. Digo isso ao guia. "Não", responde, "deixe com ele e lhe dê 5 soles; é seguro. Ele levará a sua mochila para um lugar protegido no povoado e lá você a recuperará amanhã". O povoado a que se refere é Cabanaconde, última e mais pobre vila do roteiro, uma concentração de apenas 2 mil pessoas. A propósito, todos os povoados do Vale do Colca foram construídos por cima de antigos núcleos estabelecidos por povos pré-incas, nomeadamente os waris. O rio Colca possibilitou e nutriu a ocupação humana da região, baseada principalmente na agricultura e pecuária.
Finalmente reunimo-nos todos em torno do guia para o início da caminhada. São 9 horas da manhã de um dia que para mim começou às 2 horas e meia, quando me levantei da cama. Franz faz uma rápida preleção enquanto nos mostra, in loco, a região que percorreremos. O principal elemento da paisagem é um gigantesco canyon, obviamente parte da Cordilheira dos Andes, mais de duas vezes mais profundo que o Grand Canyon. Estamos no topo de uma das paredes desse canyon. Os dois paredões descem de forma abrupta até o fundo, onde vemos correr, minúsculo, o rio Colca. O esquema da caminhada é simples, objetivo e... duro. Teremos um primeiro dia, dividido em dois turnos, de descida constante. Pernoitaremos em bungalows na beira do rio e no dia seguinte, em apenas um turno, subiremos ao topo do canyon pelo outro paredão. O grande desafio será esse segundo dia, para o qual o primeiro constitui uma "preparação", nas palavras do guia. No último dia teremos que vencer uma diferença de altitude de 1.150 metros em apenas sete quilômetros de percurso. E, o que de forma nenhuma é desprezível, estamos em altitudes elevadas, em torno de 3.500 metros. Será aqui, nessa bela região, que terei as primeiras experiências com o esforço físico intenso em condições de baixa concentração de oxigênio.
Colocam-se assim as duas grandes variáveis do trekking realizado nas regiões andinas: a diferença de altitude a ser vencida, para cima ou para baixo, e a concentração de oxigênio. Nessas altitudes de mais de 3.000 metros já há que se dar alguma atenção para os problemas que pode provocar a rarefação do oxigênio no ar. E a diferença de altitude, muito mais do que a distância percorrida ou o tempo despendido, é decisiva para o sucesso ou insucesso da caminhada. Percorrer sete quilômetros num terreno plano, usufruindo da concentração ideal de oxigênio no ar, gastando nisso menos de uma hora, não é nada. A mesma distância, percorrida numa elevação como a que enfrentamos, num lugar em que a concentração de oxigênio no ar não é a máxima, será, como veremos, um desafio.
No primeiro dia caminhamos por cerca de 11 horas, incluindo-se aí a parada para o almoço. A refeição é servida numa pequena concentração de casas no caminho, que não chega a formar um povoado. Arroz, legumes com carne, sopa de quinoa. Há um bom intervalo para alimentação e repouso, talvez uma hora e meia.
Passado o almoço, continuamos a descer. O terreno é de leito arenoso, com muitas pedras. A trilha é constantemente sinuosa, fazendo curvas intermináveis enquanto percorre a parede do canyon. De muito longe e muito abaixo, se vê o rio Colca, cuja margem esquerda está voltada para a face da montanha que percorremos. A garota que segue próxima de mim, um pouco à frente, escorrega uma, duas, três vezes. Cai na trilha, levanta-se rindo, não foi nada. Converso um pouco com ela, é uma peruana de Lima, o que de certa forma destoa um pouco do perfil "países ricos" das pessoas que fazem essa caminhada. São holandeses, franceses, norteamericanos, alemães. Fernanda pede que tire fotos dela, faz poses divertidas. Uma garota limenha comum.
Descer não é necessariamente mais fácil do que subir. Há um constante esforço de frear o passo que pode se tornar fatigante. Tento sempre pisar de lado, de modo a reduzir a possibilidade de escorregões. No final do dia, a pressão do corpo sobre os joelhos e o esforço de concentração numa trilha em que pode se escorregar a qualquer momento me deixam muito cansado. As articulações dos joelhos doem e um músculo desconhecido dá o primeiro sinal. Enfim, percorridos 15 quilômetros lineares e vencida, de cima para baixo, uma diferença de altitude de 1.000 metros, chegamos aos bungalows.
Depois do jantar coletivo, estou deitado na cama de um desses bungalows, pronto para uma noite de repouso antes do desafio de amanhã. O quarto é muito simples, quase uma cabana. Paredes de pedra cobertas com argamassa, sem pintura, chão rústico, camas e colchões velhos. A porta, que é apenas um conjunto de varetas de bambu, não tem tranca. Não há luz; felizmente trouxe a minha lanterna de testa. O guia gentilmente conseguiu para mim esse quarto individual, liberando-me de dormir, como os demais, em quartos coletivos. Os banheiros coletivos ficam em outra área.
Os músculos das coxas e as plantas dos pés doem muito. Agora que "esfriaram", levantar a perna ou pisar no chão é um esforço. Cuidadosamente, utilizando as cobertas disponíveis, faço um pequeno monte em cima do qual posso manter as pernas estendidas e elevadas. Esse é o primeiro recurso: permitir que o sangue reflua, desconcentrar os membros inferiores e aliviar a pressão sobre eles. Massageio os pés com dificuldade, torcendo o corpo para que as mãos cheguem até eles.
O sono não vem. Penso no amor perdido. Se ela estivesse aqui, eu a abraçaria por trás e dormiríamos assim. Eu massagearia os seus pés cansados e talvez isso aliviasse também os meus próprios pés, por um processo de transmissão mental. Lágrimas. Refugio-me na velha e gasta constatação: não se pode ter tudo. Felizmente, por esses dias, a imagem psíquica de Pedro se atenuou. Há dias não penso nele.
Às 5 horas da manhã do segundo dia, o guia dá a "largada" para o início da caminhada. Há, nos primeiros cem metros de subida, deixando os bungalows, um tropel, que chega a levantar poeira e fazer ruído. Os jovens caminhantes sobem desabaladamente, engolindo a trilha que mal começou. Preocupo-me: "se for assim pelo resto da manhã, estaremos mal". Felizmente em pouco o ritmo se equilibra.
Masco as folhas de coca que comprei na noite anterior, no restaurante dos bungalows. Um saquinho de folhas por um sol. Há claramente um efeito estimulante da coca. Como é amplamente sabido, mascar ("pikchar", em quechua) folhas de coca é um recurso antigo, usado pelas populações andinas para ganhar força e disposição física. A folha de coca mascada não produz nenhum efeito além dessa energização. Entretanto o guia não parece, ele mesmo, peruano, acreditar muito no poder da planta: "É 50% a coca e 50% a sua mente", me diz. De qualquer forma, sinto-me bem disposto para a subida.
"No flat tomorrow", ouvira de um outro guia no restaurante, durante o jantar, enquanto dava instruções para o seu grupo. É verdade. Essa caminhada, que dura apenas entre 3 e 4 horas, é extenuante porque não apresenta um único trecho plano ou de inclinação mais suave. Trata-se de uma subida dura, sinuosa, num terreno muito inclinado, na qual, como disse acima, tem-se que vencer 1.150 metros de diferença de altitude em apenas 7 quilômetros de distância linear percorrida.
Algumas pessoas desistem. Sobem nas mulas que os andinos "alugam" ao longo da trilha. Ou continuam por conta própria, mas sem as mochilas, que colocaram no lombo dos animais. A minha mochila, de apenas 20 litros, felizmente não me incomoda. Sabedor do problema que pode ser uma mochila muito pesada ou volumosa, preparei uma bagagem limitada, atendo-me apenas ao que é indispensável a um caminhante nessas condições: calor, alimentação durante a trilha, proteção contra a chuva.
Subo apoiado no bastão de bambu. Paro. Bebo água. Fotografo. O rio vai se tornando mais e mais pequeno lá embaixo. Lá estão, também diminutos, os bungalows que foram a nossa pernoite. Em alguns momentos, por razões que desconheço, as mulas se descontrolam e sobem desabaladamente pela trilha. É então preciso evitá-las. Em um desses momentos distraio-me, ou não entendo bem o sinal que me faz o condutor peruano que segue numa mula atrás de um turista, e os animais passam galopando por mim, que estou ao lado do abismo. O turista montado se enerva comigo e grita: "Do you wanna fly?". Não entendo o resto do que diz, mas sei que não é bom. Quando o condutor peruano passa por último, mirando-me com olhar de reprovação, brado para ele: "Hombre, ustedes estan mui preocupados". Porque de fato o risco não foi grande e a imprecação desnecessária.
Quando chego ao topo, nas imediações do povoado de Cabanaconde, já lá estão algumas pessoas do grupo. Outras ainda chegarão. Confraternizam, posam para fotos, mas mantenho-me alheio. Nada tenho com aquelas pessoas, com as quais o único elo em comum fora essa difícil caminhada de dois dias pelo impressionante canyon do rio Colca.
Colocam-se assim as duas grandes variáveis do trekking realizado nas regiões andinas: a diferença de altitude a ser vencida, para cima ou para baixo, e a concentração de oxigênio. Nessas altitudes de mais de 3.000 metros já há que se dar alguma atenção para os problemas que pode provocar a rarefação do oxigênio no ar. E a diferença de altitude, muito mais do que a distância percorrida ou o tempo despendido, é decisiva para o sucesso ou insucesso da caminhada. Percorrer sete quilômetros num terreno plano, usufruindo da concentração ideal de oxigênio no ar, gastando nisso menos de uma hora, não é nada. A mesma distância, percorrida numa elevação como a que enfrentamos, num lugar em que a concentração de oxigênio no ar não é a máxima, será, como veremos, um desafio.
No primeiro dia caminhamos por cerca de 11 horas, incluindo-se aí a parada para o almoço. A refeição é servida numa pequena concentração de casas no caminho, que não chega a formar um povoado. Arroz, legumes com carne, sopa de quinoa. Há um bom intervalo para alimentação e repouso, talvez uma hora e meia.
Passado o almoço, continuamos a descer. O terreno é de leito arenoso, com muitas pedras. A trilha é constantemente sinuosa, fazendo curvas intermináveis enquanto percorre a parede do canyon. De muito longe e muito abaixo, se vê o rio Colca, cuja margem esquerda está voltada para a face da montanha que percorremos. A garota que segue próxima de mim, um pouco à frente, escorrega uma, duas, três vezes. Cai na trilha, levanta-se rindo, não foi nada. Converso um pouco com ela, é uma peruana de Lima, o que de certa forma destoa um pouco do perfil "países ricos" das pessoas que fazem essa caminhada. São holandeses, franceses, norteamericanos, alemães. Fernanda pede que tire fotos dela, faz poses divertidas. Uma garota limenha comum.
Descer não é necessariamente mais fácil do que subir. Há um constante esforço de frear o passo que pode se tornar fatigante. Tento sempre pisar de lado, de modo a reduzir a possibilidade de escorregões. No final do dia, a pressão do corpo sobre os joelhos e o esforço de concentração numa trilha em que pode se escorregar a qualquer momento me deixam muito cansado. As articulações dos joelhos doem e um músculo desconhecido dá o primeiro sinal. Enfim, percorridos 15 quilômetros lineares e vencida, de cima para baixo, uma diferença de altitude de 1.000 metros, chegamos aos bungalows.
Depois do jantar coletivo, estou deitado na cama de um desses bungalows, pronto para uma noite de repouso antes do desafio de amanhã. O quarto é muito simples, quase uma cabana. Paredes de pedra cobertas com argamassa, sem pintura, chão rústico, camas e colchões velhos. A porta, que é apenas um conjunto de varetas de bambu, não tem tranca. Não há luz; felizmente trouxe a minha lanterna de testa. O guia gentilmente conseguiu para mim esse quarto individual, liberando-me de dormir, como os demais, em quartos coletivos. Os banheiros coletivos ficam em outra área.
Os músculos das coxas e as plantas dos pés doem muito. Agora que "esfriaram", levantar a perna ou pisar no chão é um esforço. Cuidadosamente, utilizando as cobertas disponíveis, faço um pequeno monte em cima do qual posso manter as pernas estendidas e elevadas. Esse é o primeiro recurso: permitir que o sangue reflua, desconcentrar os membros inferiores e aliviar a pressão sobre eles. Massageio os pés com dificuldade, torcendo o corpo para que as mãos cheguem até eles.
O sono não vem. Penso no amor perdido. Se ela estivesse aqui, eu a abraçaria por trás e dormiríamos assim. Eu massagearia os seus pés cansados e talvez isso aliviasse também os meus próprios pés, por um processo de transmissão mental. Lágrimas. Refugio-me na velha e gasta constatação: não se pode ter tudo. Felizmente, por esses dias, a imagem psíquica de Pedro se atenuou. Há dias não penso nele.
Às 5 horas da manhã do segundo dia, o guia dá a "largada" para o início da caminhada. Há, nos primeiros cem metros de subida, deixando os bungalows, um tropel, que chega a levantar poeira e fazer ruído. Os jovens caminhantes sobem desabaladamente, engolindo a trilha que mal começou. Preocupo-me: "se for assim pelo resto da manhã, estaremos mal". Felizmente em pouco o ritmo se equilibra.
Masco as folhas de coca que comprei na noite anterior, no restaurante dos bungalows. Um saquinho de folhas por um sol. Há claramente um efeito estimulante da coca. Como é amplamente sabido, mascar ("pikchar", em quechua) folhas de coca é um recurso antigo, usado pelas populações andinas para ganhar força e disposição física. A folha de coca mascada não produz nenhum efeito além dessa energização. Entretanto o guia não parece, ele mesmo, peruano, acreditar muito no poder da planta: "É 50% a coca e 50% a sua mente", me diz. De qualquer forma, sinto-me bem disposto para a subida.
"No flat tomorrow", ouvira de um outro guia no restaurante, durante o jantar, enquanto dava instruções para o seu grupo. É verdade. Essa caminhada, que dura apenas entre 3 e 4 horas, é extenuante porque não apresenta um único trecho plano ou de inclinação mais suave. Trata-se de uma subida dura, sinuosa, num terreno muito inclinado, na qual, como disse acima, tem-se que vencer 1.150 metros de diferença de altitude em apenas 7 quilômetros de distância linear percorrida.
Algumas pessoas desistem. Sobem nas mulas que os andinos "alugam" ao longo da trilha. Ou continuam por conta própria, mas sem as mochilas, que colocaram no lombo dos animais. A minha mochila, de apenas 20 litros, felizmente não me incomoda. Sabedor do problema que pode ser uma mochila muito pesada ou volumosa, preparei uma bagagem limitada, atendo-me apenas ao que é indispensável a um caminhante nessas condições: calor, alimentação durante a trilha, proteção contra a chuva.
Subo apoiado no bastão de bambu. Paro. Bebo água. Fotografo. O rio vai se tornando mais e mais pequeno lá embaixo. Lá estão, também diminutos, os bungalows que foram a nossa pernoite. Em alguns momentos, por razões que desconheço, as mulas se descontrolam e sobem desabaladamente pela trilha. É então preciso evitá-las. Em um desses momentos distraio-me, ou não entendo bem o sinal que me faz o condutor peruano que segue numa mula atrás de um turista, e os animais passam galopando por mim, que estou ao lado do abismo. O turista montado se enerva comigo e grita: "Do you wanna fly?". Não entendo o resto do que diz, mas sei que não é bom. Quando o condutor peruano passa por último, mirando-me com olhar de reprovação, brado para ele: "Hombre, ustedes estan mui preocupados". Porque de fato o risco não foi grande e a imprecação desnecessária.
Quando chego ao topo, nas imediações do povoado de Cabanaconde, já lá estão algumas pessoas do grupo. Outras ainda chegarão. Confraternizam, posam para fotos, mas mantenho-me alheio. Nada tenho com aquelas pessoas, com as quais o único elo em comum fora essa difícil caminhada de dois dias pelo impressionante canyon do rio Colca.










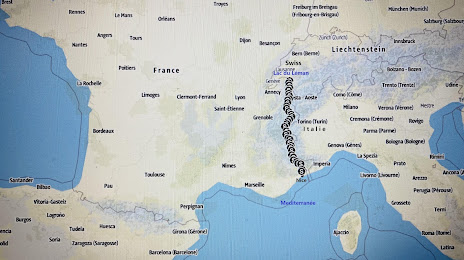


Comentários
Postar um comentário