Relatos amazônicos 4 - Barco regional
Escrevo
este relato sentado numa rede armada no piso superior da embarcação
que nos leva de Manaus a Santa Isabel do Rio Negro. Para mim é o
início da segunda fase da jornada pela Amazônia, a visita às
comunidades indígenas da Serra de Tapuruquara, organizada pela
Garupa, ong socioambiental de São Paulo. Os organizadores tratam
essa viagem como uma “aventura”, o que considero discutível.
Ainda que o nome “aventura” seja muito desejado para qualificar
viagens como essa; e mesmo “expedição”, muito utilizado há
alguns anos, mantenha o seu encanto, penso que não se trata de
nenhum deles. É uma viagem de cunho socioambiental, inserida no
turismo comunitário.
No
dia anterior deixei a simpática Santarém para seguir para Manaus
por via aérea, onde me encontraria com o grupo que realizará a
viagem. Passei parte da última manhã em Santarém aproveitando a
bela vista do terraço do hotel, de onde se pode admirar o curso
paralelo dos dois rios, este admirável cenário que constitui um dos
valores da cidade. Como eu, outros já se encantaram com essa
paisagem, a ponto de se tê-la representado na bandeira do município
de Santarém. A metade superior da bandeira é dividida em duas
faixas horizontais, uma amarela, representando o rio Amazonas, e
outra azul, representando o rio Tapajós. Na outra metade foram
gravados o pirarucu, o maior peixe de água doce da Amazônia, e a
seringueira, responsável pelo boom econômico da região
entre os séculos XIX e XX. Depois da visita ao Museu João Fona,
onde o guia-vigia me mostrou e descreveu esses caracteres, fico a
pensar em como um símbolo aparentemente inócuo como uma bandeira
pode conter tantas informações importantes sobre o perfil natural
local.
Lamentavelmente,
o mesmo respeito simbólico pela natureza, que se teve no desenho da
bandeira, não é reproduzido na vida concreta da cidade. Nos dias
passados em Santarém pude confirmar a minha observação inicial: o
esgoto corre a céu aberto por toda a cidade, ao longo dos
meios-fios, em estreitos canais abertos entre a calçada e a rua. Não
há rede subterrânea de esgoto nessa cidade de quase 300 mil
habitantes. Ora, e não há outro destino para esse esgoto que
não... os dois rios carinhosamente representados na bandeira. Então
ponho-me a matutar sobre a equação perversa: esgoto que desce
livremente ao rio – rio onde vivem peixes – peixes que são
comidos pelo homem. Penso inclusive em mim mesmo, consumidor voraz de
pescados nos dias passados na cidade.
É
claro que esse não é um problema exclusivo de Santarém. O país
que possui uma das mais extensas redes hidrográficas do mundo é
também o país que se esmera em diariamente lançar aos rios
toneladas e toneladas de esgoto doméstico e lixo químico. Santarém,
a terceira maior cidade do Pará e o seu quarto maior índice de
desenvolvimento humano, é apenas mais uma entre as centenas de
cidades brasileiras a poluírem os seus rios.
Manaus
é para mim, neste momento, apenas uma cidade de conexão entre o
período solo de Santarém e Alter do Chão e a visita coletiva às
comunidades indígenas. Na capital amazonense integro-me a um grupo
heterogêneo de turistas de várias partes do Brasil, que farão
juntos a visita às comunidades indígenas. No porto de Manaus
embarcamos no Gênesis, um barco de linha que faz a ligação entre a
capital e as cidades a oeste, singrando o rio Negro, a estrada
fluvial dessa região. O nome “barco”, utiizado de forma genérica
para tratar embarcações como essa, não faz justiça ao seu
tamanho: o Gênesis tem 3 pisos e pode transportar até 157
passageiros.
Remexo-me
na rede, ajeitando o notebook sobre o colo, enquanto escrevo.
Daqui para a frente, durante 10 dias, essa será a minha cama. Não é
novidade para mim passar a noite numa rede, mas nunca o fiz por um
período tão longo. Numa viagem fluvial como essa, que durará três
dias, essa é certamente a melhor solução para acomodar os
passageiros durante a noite. Na Indonésia, em 1998, eu e a parceira
viajamos sentados em poltronas dispostas em linha, como num cinema.
Na tela em frente eram permanentemente exibidas ruidosas chanchadas
indonésias. Essas poltronas, aliás, foram uma conquista do segundo
dia, numa viagem que durou três dias. Quando entramos no barco, no
início da viagem marítima, os únicos lugares disponíveis ficavam
no porão, um lugar quente, abafado e insalubre. Durante a única
noite que passamos ali, acordamos com um ruído estranho, olhamos
para cima e, ao longo da tubulação paralela ao teto, corriam...
ratos.
No
rio São Francisco, em 2001, a equipe de pesquisadores que eu
integrava dormia em beliches nas cabines abertas, como uma espécie
de hostel fluvial. Um dia, ao entardecer, descendo o rio a
jusante da barragem de Sobradinho, a barcaça começou a balançar. A
mareta aumentara consideravelmente. O movimento foi aumentando e em
pouco tempo os objetos começaram a deslizar nos balcões e mesas.
Pratos se espatifaram no chão. Os homens da tripulação seguravam
os dois freezers, temerosos de que deslizassem pelo piso. As pessoas
se seguravam onde podiam. O maior risco era de que a embarcação
fosse jogada de encontro aos troncos secos e pontudos que se
destacavam na paisagem; tratava-se de antigas árvores parcialmente
submersas pela elevação das águas da represa. “Seu” Pedro, o
piloto, um pachorrento senhor de 73 anos, que conduzia a embarcação
usando uma touca e chinelas caseiras, como se estivesse pronto para
dormir, manteve-se impávido. Enquanto isso, a barcaça “jogava”
de um lado para o outro. Custamos a sair daquela situação.
“Os
barcos são os ônibus da Amazônia”, dissera-nos um membro do
Instituto Socioambiental ainda em Manaus. Marcílio é paraibano e
está há 32 anos na Amazônia, oito dos quais vividos em aldeias
indígenas. As duas filhas nasceram em aldeias. A sua síntese da
importância do transporte fluvial na região é correta, mas poderia
ser ampliada. Barcos como este no qual viajamos oferecem recursos
para facilitar a jornada fluvial, que ultrapassam o que normalmente
se tem nas viagens por terra. Na nossa viagem de 48 horas, ou seja,
duas noites e dois dias embarcados, tivemos três refeições
diárias, preparadas na cozinha da embarcação. A comida é simples
e farta. Não há mesas e cadeiras disponíveis para as refeições;
come-se em pé com o prato apoiado na amurada do barco. Banhos são
possíveis, utilizando-se a água do rio Negro, bombeada para a
embarcação. Há um pequeno bar, um depósito para cargas maiores no
porão e é possível até mesmo se lavar algumas peças de roupa, o
que fiz na manhã do segundo dia. As passagens para a viagem são
vendidas em um modesto balcão provisoriamente instalado no porto,
que fica ali apenas algumas horas antes da partida. Não se aceitam
cartões bancários. O pagamento em espécie é feito e o nome do
passageiro anotado a mão num caderno. Posteriormente o capitão
percorre a embarcação perguntando um por um os nomes dos
passageiros e conferindo no caderno. Como me conta Marcelo, colega do
grupo, ele tentara de várias formas acessar informações sobre a
viagem pela Internet ou por via telefônica. Não tivera sucesso. Só
foi entender porque não conseguira, conclui divertido, ao observar a
simplicidade do processo de venda e conferência de passagens.
Trata-se, enfim, de uma típica embarcação de linha da Amazônia,
rústica, lenta, eficaz e muito utilizada pela população local.
A
tripulação é cordial com o nosso grupo e me apercebo que essa
cordialidade não se estende aos demais passageiros. Provavelmente
veem em nós um conjunto de pessoas “brancas”, “ricas”, que
viajam por lazer e cultura, carregam equipamentos caros e vestem boas
roupas. Ao passo que os demais passageiros são “nativos” da
região, na sua maioria pessoas pobres ou de classe média, que
viajam a trabalho ou para visitar parentes. Ainda que sejamos
certamente diferentes, somos alvo de pouca curiosidade. Um ou outro
passageiro local se anima a iniciar uma conversa conosco.
O
barco segue sem parar por um dia inteiro, a uma velocidade de apenas
inacreditáveis 16 km/h. “Pouco mais do que a velocidade máxima de
uma esteira de ginástica”, penso. Na tarde do segundo dia, a
embarcação faz a única parada em Barcelos, para depois seguir
ininterruptamente até Santa Isabel do Rio Negro. Esse ritmo lento e
contínuo acaba por ensejar os contatos entre os passageiros. Ou pelo
menos entre as pessoas do nosso grupo e alguns passageiros, pois não
notei sinais de amistosidade entre os passageiros locais.
Tipos
humanos em viagem. Gleilson, 36 anos, é representante comercial.
Veio de Fortaleza e viaja pela região apresentando coleções de
roupas em lojas das cidades. Diz-me ter uma boa clientela. Viaja
primeiro para os lugares de mais difícil acesso, por barco, e depois
visita as cidades aonde pode chegar de avião ou ônibus. Parece
adaptado a essa vida errante; mantém um apartamento alugado em
Manaus e não tem relacionamento amoroso fixo. “Com essa vida que
levo, seria impossível”, pontua. Falo então sobre a minha nova
realidade de aposentado com tempo livre e desejo de viajar, a relação
amorosa que se esvai, o desejo de morar por algum tempo na Amazônia
(Alter do Chão?). Incrível o que se pode confidenciar a um
desconhecido numa viagem de barco de 48 horas.
Juvêncio,
67 anos, índio da etnia arapaso. Reside em Iauret, distrito de São
Gabriel da Cachoeira, e está retornando de uma visita ao filho em
Manaus. Conta-me orgulhosamente que o filho é estudante de Medicina,
curso no qual ingressou pelo sistema de cotas para pessoas indígenas.
Em
Iauret há nove etnias indígenas, cada uma falante de uma língua. A
língua comum é o tucano. Cultivam mandioca, macaxeira, abacaxi,
cana-de-açúcar, cará, batata doce, girimum, pimenta. Pescam e
caçam.
Entramos
no terreno religioso, uma das minhas curiosidades. Terreno pantanoso.
Juvêncio defende tenazmente, nas suas palavras, a “evangelização”,
os “missionários”, o “Papa Francisco”. O catolicismo, seus
símbolos, ritos e moral, é a sua única referência religiosa.
Pergunto-lhe se os índios não tinham uma forma diferente de
religião; todavia, enquanto faço a pergunta, pergunto-me a mim
mesmo se se poderia denominar “religião” aos sistemas
cosmológicos indígenas. Para Juvêncio, a cultura indígena e o
catolicismo são mundos completamente separados, sem convívio
possível. Conta-me, a propósito da minha pergunta, um caso
lendário, em que se teria encontrado, num antigo território
indígena, uma cruz enterrada a 30 metros da superfície, provando
que os índios já eram próximos do catolicismo.
A
conversa avança. Juvêncio é inteligente, esperto e observador.
Como de vez em quando tomo notas na caderneta de viagem, sente-se
entrevistado. A certa altura, me questiona:
– “Pergunta mais, pergunta sobre
economia, criação dos filhos. Antropologia”. Surpreendo-me. A
palavra surgiu espontaneamente da sua boca.
– “Você é esperto, Juvêncio. Está
me dando a pauta da nossa conversa. Você já deve ter sido
entrevistado por muitas pessoas”. Não tenho certeza se entendeu o
sentido específico da palavra “pauta”, mas certamente
compreendeu o meu comentário. Dá-me um tapinha na perna, uma
risada, e continuamos.
– “No grupo de vocês há algum antropólogo?”, pergunta.
– “Não. Eu sou historiador, mas não há nenhum antropólogo. Nós estamos numa viagem para conhecer a região, não é uma viagem de pesquisa”.
– “Sim, entendo. E esse rapaz que
está aqui com a moça, você sabe o nome dele?”. Refere-se ao
casal de cariocas que integra o grupo.
– “Não, não sei”. Ainda não
memorizara os nomes de ambos.
– “E da moça, você sabe o nome?”
– “Também não, Juvêncio. Por que?”
– “Eles ficam se agarrando e beijando
o tempo todo. Um não larga o outro. Eles se conheceram aqui?”
– “Não, eles já se conheciam. São
do Rio de Janeiro, advogados”.
– “Ah, advogados”.
– “Mas e entre os índios, Juvêncio,
não se namora assim?”
– “E quando se aproximam, como é?”
– “Sim, quando estão juntos se
abraçam, beijam”.
– “E beijo na boca, existe entre os
índios?”
No início da tarde chegamos a Santa
Isabel do Rio Negro, onde deixaremos o barco regional e pegaremos as
“voadeiras”, pequenas lanchas que nos levarão às comunidades
indígenas, assim conhecidas obviamente em razão da velocidade com
que se deslocam. Somos um grupo de 12 pessoas, oriundas do Rio Grande
do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e
Brasília. Os interesses e as abordagens são diversificados, mas
sente-se no grupo, à medida que a viagem avança e se torna mais e
mais próxima a chegada às comunidades da Serra de Tapuruquara, um
crescente entusiasmo com a singular paisagem natural e humana deste
rincão brasileiro.
Por impedimento legal, não podem ser divulgadas fotos frontais que permitam a identificação de indivíduos pertencentes a populações indígenas.







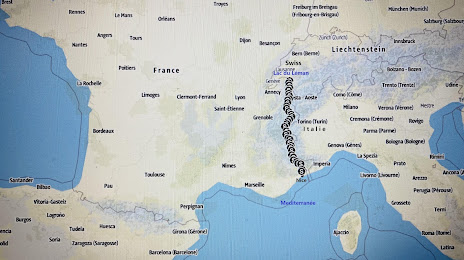


Barcelos, Santarém, Alter do Chão, só pelos nomes parece que é uma viagem em Portugal! Mas pelo resto da descrição não podia ser mais diferente. Estou a adorar a "nossa" viagem. Obrigado por toda a partilha.
ResponderExcluirQue bom que tem gostado, obrigado!
ExcluirSobre os nomes das cidades, no século XVIII atribuíram-se a vários lugares desta região nomes idênticos aos de cidades portuguesas. Acreditava-se que assim se modernizaria a Amazônia.
Estou viajando com você.
ResponderExcluir