Relatos amazônicos 8 - De Novo Airão para o Jaú. Anavilhanas
Três quarteirões. É o espaço que me separa do Centro de Atendimento ao Turista de Novo Airão. Normalmente essa distância nada significaria, mas estou numa cidade amazônica ao meio-dia. O sol inunda e aquece explosivamente tudo; afinal, estamos a apenas dois graus e meio abaixo da Linha do Equador. E na planura absurda em que se espalha a cidade não se vê uma elevação, um incidente e, até onde consigo avistar, nenhuma árvore ou marquise que proveja alguma sombra. A planura, que em princípio seria positiva para o caminhante, traz na realidade uma sensação de resistência e invencibilidade. Os quarteirões de Novo Airão, se não o são, parecem bem mais longos do que em outras cidades.
Chegara na cidade na noite anterior, fazendo da última etapa da jornada pela Amazônia uma espécie de ataque rápido, pouco planejado e incisivo. Viera num dos chamados táxis-lotação, transporte público em automóvel privado, por meio do qual podem viajar, entre Manaus e Novo Airão, até quatro passageiros. Dispensara o ônibus, mais lento. Já sabia que o ponto dos táxis-lotação fica, em Manaus, na cabeceira da ponte sobre o Rio Negro, numa avenida pouco recomendável, vizinha de uma área favelizada acossada pelo narcotráfico. Por precaução, me programei para chegar a esse lugar no final da manhã. Mas um atraso de seis horas no voo a partir de Tefé desbaratou esse cálculo e acabei por chegar ao ponto dos táxis-lotação às 5 horas da tarde. Aguardei uma hora, até que aparecesse outro passageiro, e, por fim, seguimos pela estrada asfaltada e esburacada para Novo Airão, aonde chegamos à noite.
Pela manhã iniciei o périplo pela cidade. As viagens para Anavilhanas e Jaú são caras e não poderia arcar sozinho com o custo. Buscava pessoas que estivessem interessadas em um passeio de barco de algumas horas até Anavilhanas, arquipélago facilmente acessível a partir da cidade, e, principalmente, numa viagem de alguns dias até o Parque Nacional do Jaú, objetivo obviamente mais difícil. Percorri as pousadas e hotéis e a resposta era sempre negativa. Era o meio da semana e a maioria dos hóspedes estava na cidade a trabalho.
Tive sorte em não desanimar diante da planura solar dos três quarteirões que deveria percorrer até o Centro de Atendimento ao Turista. Pois foi nesse espaço, graças às duas gentis atendentes, que acessei o contato telefônico de um barqueiro que fazia regularmente viagens ao Jaú. Do outro lado da linha, a voz feminina, no característico sotaque nortista, me informou: "Rego não está, foi ao Jaú levar um rapaz que está trabalhando nas linhas telefônicas". Isso, por si só, já me pareceu animador. "Mas está para chegar hoje uma pessoa do Sul que vem fazer a viagem até o Jaú. Ele também está sozinho". Bingo!
E assim tudo se resolveu. Tratava-se de um paulista-catarinense, cinquentão como eu, corpulento, cuja barba hirsuta não lhe retirava o ar jovial. Descolado e divertido. Roberto. Prometera ao pai levá-lo à Amazônia; ao longo dos anos, o pai cobrara reiteradamente a promessa; por fim, falecera sem realizar o sonho. Com um ar triste, Roberto me contara a história, que todavia me parecia algo previsível. Promessas não realizadas, especialmente com pais e mães, são comuns e constituem uma das armadilhas mentais que criamos para engrenar o sofrimento.
Por onde se olhe se enxergam essas porções de terra estreitas e longas, completamente cobertas por um denso arvoredo. Essas terras se alongam no rio e se sucedem umas às outras, formando o que a mim parecem "pontas" a penetrar as águas em vários planos da paisagem, desde muito próximo da embarcação até a linha do horizonte. São as cerca de 400 ilhas que formam o Arquipélago de Anavilhanas, localizado no Rio Negro e um dos maiores arquipélagos fluviais do mundo. No dia anterior ao da partida para o Jaú, faço essa excursão solo às ilhas.
O barqueiro aporta a lancha "voadeira" numa pequena praia. A areia é fina, tocada pelo matiz escuro das águas do rio. Na estreita faixa de encontro entre a areia e o rio, a tonalidade é de um amarelo dourado.
Nessa praia, Antônio, o barqueiro, me conta uma história estranha. No ano passado levara até ali, já no final da tarde, dois casais de brasileiros. Eles beberam muito e, em dado momento, começaram a se tocar e beijar. "Todos juntos?", pergunto. "Sim, os quatro todos embolados, bêbados, fazendo sexo". "E você, onde estava, Antônio?". "Eu estava aqui mesmo. Não fiz nada. Afinal, o cliente é que manda, né? Se eles pagaram...". Acrescenta ainda ser comum que casais homossexuais contratem esses passeios até as praias do rio, "onde ficam à vontade", como diz.
Isso me leva a concluir que, além do turismo ecológico, científico, pesqueiro e comunitário, podemos acrescentar à lista de insaciáveis desejos das pessoas que procuram essas plagas o turismo erótico.
No dia seguinte, rumamos para o Jaú. Somos apenas eu, Roberto e dois barqueiros, numa "voadeira" pequena e coberta, cujo motor a impulsiona a uma velocidade média de 25 quilômetros/hora. Pela manhã, aproveitando o clima chuvoso, que não autorizava a saída, havíamos comprado alguns alimentos no supermercado local. Eles seguiam protegidos numa caixa térmica com gelo. A pequena bagagem fora coberta com lona.
Nessa última incursão da minha jornada, me desapegara da maior parte dos objetos que se considera necessários em viagens do tipo. Carregava apenas duas camisetas, uma bermuda, escova de dentes, um pedaço pequeno de sabão com o qual lavava roupas e a mim mesmo, canivete, chinelos e a bota de caminhada. E... um pijama curto, que divertia Roberto: "Normalmente os aposentados ficam de pijamas a ver TV em casa. Mas você é um aposentado que viaja pela Amazônia dormindo de pijama". E ria. De fato, parecia uma excentricidade. Fato é que quem viaja em condições precárias e rústicas necessita alguns pontos de apoio emocional, referências mínimas que lhe deem suporte interno para prosseguir. Vestir o pijama depois de um banho, fosse ele no rio ou no banheiro de um hotel, me fazia sentir um certo conforto doméstico numa viagem que evidentemente não tinha nada disso.
Deixamos Anavilhanas e continuamos a subir o Rio Negro, até a foz do Rio Jaú. Neste ponto está a base do Parque Nacional do Jaú. Passamos por ela e continuamos pelo Rio Jaú até a foz do Rio Carabinani. No trajeto, antes de chegar ao Carabinani, paramos nas impressionantes ruínas de Airão Velho. Restos de sólidas construções em pedra, que outrora formavam uma vila à beira do Rio Negro, são paulatinamente tomados pela mata. Antigas portas, janelas, pórticos, colunas são cobertos pela vegetação, que invade as estruturas utilizando-as como suporte para crescer. O guia-barqueiro identifica as construções: "aqui foi a igreja, lá o mercado, acolá a casa-grande". "Porque as pessoas deixaram esse lugar?", pergunto. A explicação é singela: ali havia somente uma escola infantil e, à medida que os filhos cresciam, os moradores sentiam a necessidade de se mudar para um lugar que lhes possibilitasse a continuidade dos estudos. "A explicação não deve ser tão simples, ou este deve ter sido somente um dos fatores para a decadência do lugar", penso. Fatores geoeconômicos devem ter levado a que um próspero povoado, com construções imponentes e artisticamente trabalhadas, fosse abandonado pelos moradores.
Airão Velho, localizado na confluência dos rios Negro e Jaú, foi a primeira povoação assentada nas margens do grande Rio Negro, datando de 1694 a sua fundação. Hoje ainda abriga, segundo o guia-barqueiro, três moradores, um deles o famoso "japonês", um idoso de origem japonesa que reside há décadas no lugar. Teria sido interessante conhecer esse personagem, mas ele não se encontrava lá; segundo o guia, estava em Novo Airão cuidando do seu processo de aposentadoria.
Nas rochas que dão acesso pelo rio a Airão Velho estão os intrigantes petroglifos, gravações nas pedras feitas por moradores pré-coloniais da região. Diferem das habituais inscrições rupestres por não terem sido desenhados com tinta, mas entalhados nas rochas. Como estão à beira-rio, as pedras com essas representações submergem no Rio Negro durante as cheias.
Seguimos viagem rumo a outro lugar igualmente intrigante. Em mais de meia hora de navegação, subindo o Rio Carabinani, não vira sinal de ocupação humana. Apenas as águas tépidas do rio e o arvoredo verdejante das margens. O nosso destino, nas palavras do guia, era o "lugar onde mora o único morador do Carabinani". Essa frase me intrigou: conhecera vários rios nas minhas viagens de pesquisa, mas jamais ouvira dizer que um rio de médio porte tivesse apenas um morador...
Quando chegamos a essa espécie de rancho rústico, um lugar sem eletricidade, telefone fixo, sinal de celular, água encanada ou qualquer outra das comodidades que consideramos indispensáveis à vida, o "único morador", Ari, não se encontrava. "Deve ter saído para pescar...", cogitaram os barqueiros, enquanto descarregavam a lancha. Descontraidamente, foram ocupando os espaços da choupana de Ari e, depois, o tapiri disponível para o nosso alojamento. Tapiri, aprendi rapidamente, constitui uma estrutura de pouso ainda mais rústica do que as que tínhamos utilizado na viagem às comunidades indígenas. Consistia numa armação com estacas de madeira e teto de lona plástica. A maior parte dos espaços era inteiramente aberta, mas no fundo foram adaptadas três pequenas "paredes" de palha. A novidade desse tapiri é que o piso de tábuas de madeira fora elevado em cerca de 30 centímetros, provendo algum distanciamento do chão de terra. A algumas dezenas de metros iniciava-se a mata.
"Onde você quer dormir?", perguntou Roberto. "Onde você não quiser", brinquei. Ele, então, se refugiou na rede do fundo, provavelmente em razão da maior proteção oferecida pelas "paredes" de palha. Desde a visita às comunidades indígenas havia experimentado redes com mosquiteiro, uma novidade que, para mim, podia fazer toda a diferença. Além de evitar os óbvios pernilongos, mosquitos e demais insetos voadores, proviam ótima proteção contra aranhas e até mesmo alguma cobra que deslizasse pelas estacas do tapiri. Era um fator de segurança, todavia recusado pelos jovens barqueiros: "não consigo dormir com mosquiteiro, me abafa", dissera um deles.
Ari, um homem de idade indefinida, talvez 40 anos, pouco tinha da figura do eremita que esperara encontrar ali. Era brincalhão e comunicativo. Disse-me que a família tinha ido para Novo Airão e prometera voltar. "Mas sempre dizem que vão chegar e não chegam", lamentou. Era responsável pela medição do nível do rio, feita por meio de estacas graduadas fincadas no barranco, e pela aferição do pluviômetro, instalado na terra nua, um pouco distante da choupana. Periodicamente entregava o que lia para a empresa responsável pela coleta dos dados. Além disso, auferia algum recurso recebendo grupos como o nosso, o que, contou-me, ocorria em média três vezes por mês. Mas, quando perguntei quanto tempo passara sozinho, antes da nossa chegada, me respondera: 20 dias.
Não era um solitário completo. Mas podia desaparecer por horas durante o dia ou durante a noite, quando pegava a rabeta e ia pescar. Essas saídas longas eram em geral antecedidas de alguma cachaça. "Mas é um perigo navegar alcoolizado", notamos. Os guias sorriram: "É para dar coragem, sem isso ele não se aventura no rio". Ou, por outra, podia se deitar na rede, no interior da choupana, e, alheio a tudo e todos, dormir por um dia e uma noite. Nada parecia perturbá-lo nessas horas de completa introversão.
Recebia uma visita especial de vez em quando, que todavia não chegava até a choupana, permanecendo na margem oposta do rio. Vinha principalmente à noite. Tratava-se de uma onça preta, que Ari apelidara "Nicole", cujos "esturros" (urros), proclamava, eram tão altos que ameaçavam derrubar a sua cabana. Aos poucos vou entendendo que a solidão engendrara essa figura antropomorfizada na mente daquele ribeirinho. A onça era real? Provavelmente sim. Mas a intensidade do relato de Ari sobre as façanhas do animal, bem como a relação quase íntima representada pelo apelido "Nicole", me diziam que havia ali algo mais do que uma simples reação de temor humano frente a um animal perigoso.
A onça, jamais vista em nenhuma das inúmeras trilhas que percorri, é uma presença poderosa em cada indício dela que os guias locais encontram e se esmeram em nos apontar e explicar. Encontram pegadas do animal nas proximidades de uma grande árvore, onde segundo contam, pode passar até uma semana, vivendo sobre os galhos e se alimentando de frutos e dos macacos que eventualmente conseguir capturar. Descobrem num tronco seco sinais de que a onça raspou nele as suas unhas, uma forma de limpá-las de restos de carne. E aqui, na imaginação de Ari, torna-se um animal quase lendário, uma figura feminina dotada de poder e encanto.
Na primeira noite naquele lugar sonhei com Pedro. Acordei de madrugada, assim que o sonho terminou, esforçando-me por gravar algumas palavras, que pela manhã me permitissem reproduzir o enredo. Inútil. Como de outras vezes, as imagens e o enredo sonhados eram vívidos na madrugada, mas se dissipavam quase que por completo quando acordava de manhã. Nesse caso sabia apenas que meu filho estava feliz. Onde? Obviamente apenas na sede da minha produção psíquica, porque há 3 anos e 9 meses ele não existia mais em lugar algum. Havia tempos, talvez semanas, que não sonhava com ele. E isso ocorrera na solidão daquele lugar mágico.
Pus-me então a refletir sobre o espaço onde estava. Não estava muito longe, na escala amazônica, de Manaus e Novo Airão, isto é, da assim chamada "civilização". Mas as distâncias amazônicas faziam de lugares como esse algo como que as últimas fronteiras da presença humana. E produziam seus insólitos personagens. O japonês, que não chegara a conhecer, uma espécie de guardião dos restos de uma vila criada três séculos e meio atrás. O que sentiria esse homem, assistindo ao inusual movimento da floresta que retoma o controle sobre a povoação? E Ari, o único homem de um rio inteiro, o último sinal de presença humana em uma vasta superfície de matas e rios? As razões triviais para a vida solitária que esses homens levavam não me enganavam. Havia uma dose de encanto no isolamento em lugares como aquele.
Fechei os olhos e adormeci novamente. Acordei algumas horas depois. Esse seria o principal dia passado no parque, o dia em que realizaríamos as trilhas combinadas do Itaubal e do Pesquisador. A primeira leva esse nome devido à presença de numerosos espécimes da itaúba, árvore de grande resistência, por isso utilizada na construção de moradias, mobiliário e embarcações. A trilha do Pesquisador é assim conhecida por ter sido aberta como caminho para a penetração de estudiosos da mata. Navegamos por cerca de uma hora desde a base do Ari até a entrada dessas trilhas.
A caminhada realizada a partir do Rio Tapajós, na primeira etapa da minha viagem, juntamente com essa caminhada pelas trilhas do Parque do Jaú, foram os trechos mais longos que percorri a pé na Amazônia.
A mata é densa, fechada, com árvores grossas, diferente da vegetação de várzea que tinha conhecido no Lago Mamirauá. Enquanto descansa sentado num tronco caído, Roberto nos explica a teoria dos refúgios de biodiversidade, por meio da qual se pode considerar a área do Parque Nacional do Jaú uma "mancha" de ocorrência de alta biodiversidade numa região que, milênios atrás, já foi pressionada pelo cerrado e pela caatinga.
Percorremos trilhas de terreno macio, sem elevações significativas, que permanecem a maior parte do tempo na sombra, devido às árvores que as ladeiam. Não obstante a ausência de sol direto, o calor úmido é muito grande. Deve-se caminhar com atenção redobrada, pois no chão se entremeiam raízes e troncos caídos, onde se pode tropeçar e cair. Volta e meia um tronco maior, resultado da queda de uma árvore por ação de um raio ou do vento, aparece a bloquear a passagem.
Antes de iniciarmos a caminhada, ainda na lancha, havia perguntado aos barqueiros sobre a água potável que deveríamos levar. "Não se preocupe, há a água da cachoeira e dos igarapés", foi a resposta. Confiante nisso, muni-me apenas de uma garrafinha de 250 mililitros de água. Ao chegar à bela cachoeirinha do Itaubal, produzida por um igarapé de maior porte, percebo uma água de cor vermelho-marrom, ferruginosa. Breno, o guia principal, me explica que se trata do apodrecimento das folhas que caem nas águas, efeito mais evidente neste período de vazante. Resolvo dispensar aquela água e prosseguimos. Logo encontramos os igarapés, mas a água corre muito lentamente neste período seco. Em algumas semanas serão brejos de água parada. Por mais que já tenha experimentado água natural de córregos e rios em inúmeras situações de camping e trekking, aquelas águas não me parecem confiáveis. E, empenhado em minimalizar a bagagem, havia deixado para trás as pílulas de Chlorine.
Aos poucos Roberto vai mostrando sinais de cansaço. Ofegante, pede para pararmos para que descanse sentado em troncos. A água potável acabou; ele resolve beber da água dos igarapés, eu não. Quando chegamos nas proximidades de uma campina que interessava especialmente ao companheiro de viagem pela mudança da vegetação, ele se assenta, ainda na mata fechada, e me diz: "vá lá conhecer, estou muito cansado". "Mas a campina está ali, a apenas cinco minutos de nós", tento animá-lo. Ele não se levanta. De fato é uma mudança brusca de perfil vegetal. As árvores são finas, a vegetação rasteira é mais seca e, digamos, agressiva, com espinhos. Como não há grandes árvores, aqui o sol reaparece com toda a sua potência. Não há mais o calor úmido da mata fechada, mas o calor seco de área aberta. Tenho uma sensação de familiaridade. Estou em algo próximo do "meu" cerrado.
Continuamos. A sede e o fantasma que anda junto com ela, a antecipação da sede, se fazem sentir. Em dado momento sugiro que um dos guias vá na frente, mais rápido, pegue água potável na lancha e volte para nos encontrar. Supunha que não demoraria muito, mas ele só retornou... uma hora depois. "As escalas amazônicas", penso. Bem abastecidos de água, prosseguimos com ânimo renovado.
Quando a tempestade caiu ainda estávamos na trilha. Caminhamos ainda algum tempo, menos de meia hora, até chegar ao barco amarrado numa árvore na margem do rio. Num movimento quase automático, sincronizado, entramos os quatro na lancha e ato contínuo o piloto ligou o motor e imediatamente deu partida na embarcação. Ninguém falou nada, mas eu podia sentir a tensão no ar.
Chegara na cidade na noite anterior, fazendo da última etapa da jornada pela Amazônia uma espécie de ataque rápido, pouco planejado e incisivo. Viera num dos chamados táxis-lotação, transporte público em automóvel privado, por meio do qual podem viajar, entre Manaus e Novo Airão, até quatro passageiros. Dispensara o ônibus, mais lento. Já sabia que o ponto dos táxis-lotação fica, em Manaus, na cabeceira da ponte sobre o Rio Negro, numa avenida pouco recomendável, vizinha de uma área favelizada acossada pelo narcotráfico. Por precaução, me programei para chegar a esse lugar no final da manhã. Mas um atraso de seis horas no voo a partir de Tefé desbaratou esse cálculo e acabei por chegar ao ponto dos táxis-lotação às 5 horas da tarde. Aguardei uma hora, até que aparecesse outro passageiro, e, por fim, seguimos pela estrada asfaltada e esburacada para Novo Airão, aonde chegamos à noite.
Pela manhã iniciei o périplo pela cidade. As viagens para Anavilhanas e Jaú são caras e não poderia arcar sozinho com o custo. Buscava pessoas que estivessem interessadas em um passeio de barco de algumas horas até Anavilhanas, arquipélago facilmente acessível a partir da cidade, e, principalmente, numa viagem de alguns dias até o Parque Nacional do Jaú, objetivo obviamente mais difícil. Percorri as pousadas e hotéis e a resposta era sempre negativa. Era o meio da semana e a maioria dos hóspedes estava na cidade a trabalho.
Tive sorte em não desanimar diante da planura solar dos três quarteirões que deveria percorrer até o Centro de Atendimento ao Turista. Pois foi nesse espaço, graças às duas gentis atendentes, que acessei o contato telefônico de um barqueiro que fazia regularmente viagens ao Jaú. Do outro lado da linha, a voz feminina, no característico sotaque nortista, me informou: "Rego não está, foi ao Jaú levar um rapaz que está trabalhando nas linhas telefônicas". Isso, por si só, já me pareceu animador. "Mas está para chegar hoje uma pessoa do Sul que vem fazer a viagem até o Jaú. Ele também está sozinho". Bingo!
E assim tudo se resolveu. Tratava-se de um paulista-catarinense, cinquentão como eu, corpulento, cuja barba hirsuta não lhe retirava o ar jovial. Descolado e divertido. Roberto. Prometera ao pai levá-lo à Amazônia; ao longo dos anos, o pai cobrara reiteradamente a promessa; por fim, falecera sem realizar o sonho. Com um ar triste, Roberto me contara a história, que todavia me parecia algo previsível. Promessas não realizadas, especialmente com pais e mães, são comuns e constituem uma das armadilhas mentais que criamos para engrenar o sofrimento.
Por onde se olhe se enxergam essas porções de terra estreitas e longas, completamente cobertas por um denso arvoredo. Essas terras se alongam no rio e se sucedem umas às outras, formando o que a mim parecem "pontas" a penetrar as águas em vários planos da paisagem, desde muito próximo da embarcação até a linha do horizonte. São as cerca de 400 ilhas que formam o Arquipélago de Anavilhanas, localizado no Rio Negro e um dos maiores arquipélagos fluviais do mundo. No dia anterior ao da partida para o Jaú, faço essa excursão solo às ilhas.
O barqueiro aporta a lancha "voadeira" numa pequena praia. A areia é fina, tocada pelo matiz escuro das águas do rio. Na estreita faixa de encontro entre a areia e o rio, a tonalidade é de um amarelo dourado.
Nessa praia, Antônio, o barqueiro, me conta uma história estranha. No ano passado levara até ali, já no final da tarde, dois casais de brasileiros. Eles beberam muito e, em dado momento, começaram a se tocar e beijar. "Todos juntos?", pergunto. "Sim, os quatro todos embolados, bêbados, fazendo sexo". "E você, onde estava, Antônio?". "Eu estava aqui mesmo. Não fiz nada. Afinal, o cliente é que manda, né? Se eles pagaram...". Acrescenta ainda ser comum que casais homossexuais contratem esses passeios até as praias do rio, "onde ficam à vontade", como diz.
Isso me leva a concluir que, além do turismo ecológico, científico, pesqueiro e comunitário, podemos acrescentar à lista de insaciáveis desejos das pessoas que procuram essas plagas o turismo erótico.
No dia seguinte, rumamos para o Jaú. Somos apenas eu, Roberto e dois barqueiros, numa "voadeira" pequena e coberta, cujo motor a impulsiona a uma velocidade média de 25 quilômetros/hora. Pela manhã, aproveitando o clima chuvoso, que não autorizava a saída, havíamos comprado alguns alimentos no supermercado local. Eles seguiam protegidos numa caixa térmica com gelo. A pequena bagagem fora coberta com lona.
Nessa última incursão da minha jornada, me desapegara da maior parte dos objetos que se considera necessários em viagens do tipo. Carregava apenas duas camisetas, uma bermuda, escova de dentes, um pedaço pequeno de sabão com o qual lavava roupas e a mim mesmo, canivete, chinelos e a bota de caminhada. E... um pijama curto, que divertia Roberto: "Normalmente os aposentados ficam de pijamas a ver TV em casa. Mas você é um aposentado que viaja pela Amazônia dormindo de pijama". E ria. De fato, parecia uma excentricidade. Fato é que quem viaja em condições precárias e rústicas necessita alguns pontos de apoio emocional, referências mínimas que lhe deem suporte interno para prosseguir. Vestir o pijama depois de um banho, fosse ele no rio ou no banheiro de um hotel, me fazia sentir um certo conforto doméstico numa viagem que evidentemente não tinha nada disso.
Deixamos Anavilhanas e continuamos a subir o Rio Negro, até a foz do Rio Jaú. Neste ponto está a base do Parque Nacional do Jaú. Passamos por ela e continuamos pelo Rio Jaú até a foz do Rio Carabinani. No trajeto, antes de chegar ao Carabinani, paramos nas impressionantes ruínas de Airão Velho. Restos de sólidas construções em pedra, que outrora formavam uma vila à beira do Rio Negro, são paulatinamente tomados pela mata. Antigas portas, janelas, pórticos, colunas são cobertos pela vegetação, que invade as estruturas utilizando-as como suporte para crescer. O guia-barqueiro identifica as construções: "aqui foi a igreja, lá o mercado, acolá a casa-grande". "Porque as pessoas deixaram esse lugar?", pergunto. A explicação é singela: ali havia somente uma escola infantil e, à medida que os filhos cresciam, os moradores sentiam a necessidade de se mudar para um lugar que lhes possibilitasse a continuidade dos estudos. "A explicação não deve ser tão simples, ou este deve ter sido somente um dos fatores para a decadência do lugar", penso. Fatores geoeconômicos devem ter levado a que um próspero povoado, com construções imponentes e artisticamente trabalhadas, fosse abandonado pelos moradores.
Airão Velho, localizado na confluência dos rios Negro e Jaú, foi a primeira povoação assentada nas margens do grande Rio Negro, datando de 1694 a sua fundação. Hoje ainda abriga, segundo o guia-barqueiro, três moradores, um deles o famoso "japonês", um idoso de origem japonesa que reside há décadas no lugar. Teria sido interessante conhecer esse personagem, mas ele não se encontrava lá; segundo o guia, estava em Novo Airão cuidando do seu processo de aposentadoria.
Nas rochas que dão acesso pelo rio a Airão Velho estão os intrigantes petroglifos, gravações nas pedras feitas por moradores pré-coloniais da região. Diferem das habituais inscrições rupestres por não terem sido desenhados com tinta, mas entalhados nas rochas. Como estão à beira-rio, as pedras com essas representações submergem no Rio Negro durante as cheias.
Seguimos viagem rumo a outro lugar igualmente intrigante. Em mais de meia hora de navegação, subindo o Rio Carabinani, não vira sinal de ocupação humana. Apenas as águas tépidas do rio e o arvoredo verdejante das margens. O nosso destino, nas palavras do guia, era o "lugar onde mora o único morador do Carabinani". Essa frase me intrigou: conhecera vários rios nas minhas viagens de pesquisa, mas jamais ouvira dizer que um rio de médio porte tivesse apenas um morador...
Quando chegamos a essa espécie de rancho rústico, um lugar sem eletricidade, telefone fixo, sinal de celular, água encanada ou qualquer outra das comodidades que consideramos indispensáveis à vida, o "único morador", Ari, não se encontrava. "Deve ter saído para pescar...", cogitaram os barqueiros, enquanto descarregavam a lancha. Descontraidamente, foram ocupando os espaços da choupana de Ari e, depois, o tapiri disponível para o nosso alojamento. Tapiri, aprendi rapidamente, constitui uma estrutura de pouso ainda mais rústica do que as que tínhamos utilizado na viagem às comunidades indígenas. Consistia numa armação com estacas de madeira e teto de lona plástica. A maior parte dos espaços era inteiramente aberta, mas no fundo foram adaptadas três pequenas "paredes" de palha. A novidade desse tapiri é que o piso de tábuas de madeira fora elevado em cerca de 30 centímetros, provendo algum distanciamento do chão de terra. A algumas dezenas de metros iniciava-se a mata.
"Onde você quer dormir?", perguntou Roberto. "Onde você não quiser", brinquei. Ele, então, se refugiou na rede do fundo, provavelmente em razão da maior proteção oferecida pelas "paredes" de palha. Desde a visita às comunidades indígenas havia experimentado redes com mosquiteiro, uma novidade que, para mim, podia fazer toda a diferença. Além de evitar os óbvios pernilongos, mosquitos e demais insetos voadores, proviam ótima proteção contra aranhas e até mesmo alguma cobra que deslizasse pelas estacas do tapiri. Era um fator de segurança, todavia recusado pelos jovens barqueiros: "não consigo dormir com mosquiteiro, me abafa", dissera um deles.
Ari, um homem de idade indefinida, talvez 40 anos, pouco tinha da figura do eremita que esperara encontrar ali. Era brincalhão e comunicativo. Disse-me que a família tinha ido para Novo Airão e prometera voltar. "Mas sempre dizem que vão chegar e não chegam", lamentou. Era responsável pela medição do nível do rio, feita por meio de estacas graduadas fincadas no barranco, e pela aferição do pluviômetro, instalado na terra nua, um pouco distante da choupana. Periodicamente entregava o que lia para a empresa responsável pela coleta dos dados. Além disso, auferia algum recurso recebendo grupos como o nosso, o que, contou-me, ocorria em média três vezes por mês. Mas, quando perguntei quanto tempo passara sozinho, antes da nossa chegada, me respondera: 20 dias.
Não era um solitário completo. Mas podia desaparecer por horas durante o dia ou durante a noite, quando pegava a rabeta e ia pescar. Essas saídas longas eram em geral antecedidas de alguma cachaça. "Mas é um perigo navegar alcoolizado", notamos. Os guias sorriram: "É para dar coragem, sem isso ele não se aventura no rio". Ou, por outra, podia se deitar na rede, no interior da choupana, e, alheio a tudo e todos, dormir por um dia e uma noite. Nada parecia perturbá-lo nessas horas de completa introversão.
Recebia uma visita especial de vez em quando, que todavia não chegava até a choupana, permanecendo na margem oposta do rio. Vinha principalmente à noite. Tratava-se de uma onça preta, que Ari apelidara "Nicole", cujos "esturros" (urros), proclamava, eram tão altos que ameaçavam derrubar a sua cabana. Aos poucos vou entendendo que a solidão engendrara essa figura antropomorfizada na mente daquele ribeirinho. A onça era real? Provavelmente sim. Mas a intensidade do relato de Ari sobre as façanhas do animal, bem como a relação quase íntima representada pelo apelido "Nicole", me diziam que havia ali algo mais do que uma simples reação de temor humano frente a um animal perigoso.
A onça, jamais vista em nenhuma das inúmeras trilhas que percorri, é uma presença poderosa em cada indício dela que os guias locais encontram e se esmeram em nos apontar e explicar. Encontram pegadas do animal nas proximidades de uma grande árvore, onde segundo contam, pode passar até uma semana, vivendo sobre os galhos e se alimentando de frutos e dos macacos que eventualmente conseguir capturar. Descobrem num tronco seco sinais de que a onça raspou nele as suas unhas, uma forma de limpá-las de restos de carne. E aqui, na imaginação de Ari, torna-se um animal quase lendário, uma figura feminina dotada de poder e encanto.
Na primeira noite naquele lugar sonhei com Pedro. Acordei de madrugada, assim que o sonho terminou, esforçando-me por gravar algumas palavras, que pela manhã me permitissem reproduzir o enredo. Inútil. Como de outras vezes, as imagens e o enredo sonhados eram vívidos na madrugada, mas se dissipavam quase que por completo quando acordava de manhã. Nesse caso sabia apenas que meu filho estava feliz. Onde? Obviamente apenas na sede da minha produção psíquica, porque há 3 anos e 9 meses ele não existia mais em lugar algum. Havia tempos, talvez semanas, que não sonhava com ele. E isso ocorrera na solidão daquele lugar mágico.
Pus-me então a refletir sobre o espaço onde estava. Não estava muito longe, na escala amazônica, de Manaus e Novo Airão, isto é, da assim chamada "civilização". Mas as distâncias amazônicas faziam de lugares como esse algo como que as últimas fronteiras da presença humana. E produziam seus insólitos personagens. O japonês, que não chegara a conhecer, uma espécie de guardião dos restos de uma vila criada três séculos e meio atrás. O que sentiria esse homem, assistindo ao inusual movimento da floresta que retoma o controle sobre a povoação? E Ari, o único homem de um rio inteiro, o último sinal de presença humana em uma vasta superfície de matas e rios? As razões triviais para a vida solitária que esses homens levavam não me enganavam. Havia uma dose de encanto no isolamento em lugares como aquele.
Fechei os olhos e adormeci novamente. Acordei algumas horas depois. Esse seria o principal dia passado no parque, o dia em que realizaríamos as trilhas combinadas do Itaubal e do Pesquisador. A primeira leva esse nome devido à presença de numerosos espécimes da itaúba, árvore de grande resistência, por isso utilizada na construção de moradias, mobiliário e embarcações. A trilha do Pesquisador é assim conhecida por ter sido aberta como caminho para a penetração de estudiosos da mata. Navegamos por cerca de uma hora desde a base do Ari até a entrada dessas trilhas.
A caminhada realizada a partir do Rio Tapajós, na primeira etapa da minha viagem, juntamente com essa caminhada pelas trilhas do Parque do Jaú, foram os trechos mais longos que percorri a pé na Amazônia.
A mata é densa, fechada, com árvores grossas, diferente da vegetação de várzea que tinha conhecido no Lago Mamirauá. Enquanto descansa sentado num tronco caído, Roberto nos explica a teoria dos refúgios de biodiversidade, por meio da qual se pode considerar a área do Parque Nacional do Jaú uma "mancha" de ocorrência de alta biodiversidade numa região que, milênios atrás, já foi pressionada pelo cerrado e pela caatinga.
Percorremos trilhas de terreno macio, sem elevações significativas, que permanecem a maior parte do tempo na sombra, devido às árvores que as ladeiam. Não obstante a ausência de sol direto, o calor úmido é muito grande. Deve-se caminhar com atenção redobrada, pois no chão se entremeiam raízes e troncos caídos, onde se pode tropeçar e cair. Volta e meia um tronco maior, resultado da queda de uma árvore por ação de um raio ou do vento, aparece a bloquear a passagem.
Antes de iniciarmos a caminhada, ainda na lancha, havia perguntado aos barqueiros sobre a água potável que deveríamos levar. "Não se preocupe, há a água da cachoeira e dos igarapés", foi a resposta. Confiante nisso, muni-me apenas de uma garrafinha de 250 mililitros de água. Ao chegar à bela cachoeirinha do Itaubal, produzida por um igarapé de maior porte, percebo uma água de cor vermelho-marrom, ferruginosa. Breno, o guia principal, me explica que se trata do apodrecimento das folhas que caem nas águas, efeito mais evidente neste período de vazante. Resolvo dispensar aquela água e prosseguimos. Logo encontramos os igarapés, mas a água corre muito lentamente neste período seco. Em algumas semanas serão brejos de água parada. Por mais que já tenha experimentado água natural de córregos e rios em inúmeras situações de camping e trekking, aquelas águas não me parecem confiáveis. E, empenhado em minimalizar a bagagem, havia deixado para trás as pílulas de Chlorine.
Aos poucos Roberto vai mostrando sinais de cansaço. Ofegante, pede para pararmos para que descanse sentado em troncos. A água potável acabou; ele resolve beber da água dos igarapés, eu não. Quando chegamos nas proximidades de uma campina que interessava especialmente ao companheiro de viagem pela mudança da vegetação, ele se assenta, ainda na mata fechada, e me diz: "vá lá conhecer, estou muito cansado". "Mas a campina está ali, a apenas cinco minutos de nós", tento animá-lo. Ele não se levanta. De fato é uma mudança brusca de perfil vegetal. As árvores são finas, a vegetação rasteira é mais seca e, digamos, agressiva, com espinhos. Como não há grandes árvores, aqui o sol reaparece com toda a sua potência. Não há mais o calor úmido da mata fechada, mas o calor seco de área aberta. Tenho uma sensação de familiaridade. Estou em algo próximo do "meu" cerrado.
Continuamos. A sede e o fantasma que anda junto com ela, a antecipação da sede, se fazem sentir. Em dado momento sugiro que um dos guias vá na frente, mais rápido, pegue água potável na lancha e volte para nos encontrar. Supunha que não demoraria muito, mas ele só retornou... uma hora depois. "As escalas amazônicas", penso. Bem abastecidos de água, prosseguimos com ânimo renovado.
Quando a tempestade caiu ainda estávamos na trilha. Caminhamos ainda algum tempo, menos de meia hora, até chegar ao barco amarrado numa árvore na margem do rio. Num movimento quase automático, sincronizado, entramos os quatro na lancha e ato contínuo o piloto ligou o motor e imediatamente deu partida na embarcação. Ninguém falou nada, mas eu podia sentir a tensão no ar.
Na lancha em movimento sob a chuva forte no rio, observava ao meu redor. Via as costas volumosas do companheiro de viagem, vestidas numa camiseta azul. Sem colete salva-vidas. Ao lado dele, o ajudante, que eu não sabia se sabia pilotar ou não. Provavelmente sim; nesta região os meninos aprendem desde cedo a pilotar rabetas e depois lanchas. Ele também sem colete. Ao meu lado, o piloto, que coordenava a viagem. Sem colete.
Ao contrário dos três, eu havia colocado o colete salva-vidas tão logo entrara no barco. Amarrara-o bem no corpo e liberara o cordão que segura o apito. Continuei a olhar para a frente e para os lados. A camiseta azul do companheiro, o ajudante acocorado para se proteger da chuva, os movimentos atentos do piloto, a tempestade caindo no rio. A camiseta azul..., o ajudante acocorado..., os movimentos atentos..., a tempestade... A camiseta..., o ajudante..., os movimentos..., a tempestade... Três pessoas sem colete, uma pessoa com colete...
[Abri os olhos quando a água começou a me entrar pela boca e pelo nariz. Levei ainda alguns segundos para entender o que ocorrera. Em volta da minha cabeça, como que abraçando-a, uma forma dura de cor laranja vivo. O colete, a minha mente registrou. Agarrei-o com ambas as mãos, mas percebi com desgosto que esse movimento me puxava para o fundo. Aos poucos fui aprendendo a boiar a cabeça, mantendo-a fora da água, usando o colete como uma espécie de travesseiro flutuante. O resto do corpo pendia inevitavelmente debaixo da água.
"O que aconteceu?", perguntei-me quando o raciocínio voltou. Olhei em torno. Então, para completo pasmo meu, vi que a lancha estava rachada em duas partes, uma das quais pegava fogo. Era um fogo azul, potente, que não dava nenhum sinal de se extinguir sob a tempestade que continuava a cair. "Fogo de gasolina", pensei. Aos poucos fui compreendendo o que acontecera. A lancha, que trafegava na velocidade máxima, colidira com uma pedra que a rasgara ao meio. Com a colisão, o tanque de combustível, que o piloto enchera pouco antes, explodira e incendiara o que restava da embarcação.
Dei um grito: "ei!". Nenhuma resposta. Repeti. Nada. Lembrei-me do apito. Puxei-o de dentro da água, preso ao colete pelo cordão. Soprei a água para fora e apitei. Várias vezes. Nada.
Não sei bem quanto tempo se passou até que me convencesse de que estava sozinho, de que os companheiros de viagem não me responderiam. E de que a minha única salvação estava em chegar à margem do rio atrás de mim e, assim que recobrasse o fôlego e ganhasse algum ânimo, penetrar na mata e caminhar por ela até encontrar alguma ajuda. Virei-me então de costas para a embarcação que se incendiava e fui nadando devagar, enfrentando as águas turbulentas, sob a tempestade, tentando chegar à margem. Um dos lados da minha mente concentrava-se fixamente em me salvar, cadenciando os movimentos dos braços e pernas e sobretudo evitando o pânico, que fatalmente me levaria para o fundo. Mas o outro lado da mente antecipava com angústia: "estará naquela mata a minha salvação? Encontrarei alguém que possa me ajudar? Ou, por outra, tombarei vítima da fome, da desorientação, de uma cobra, de uma onça?"].
Felizmente nenhum desses tormentos, devaneados em alguns segundos na embarcação que seguia sob a tempestade, se deu na realidade. Chegamos sãos, salvos e molhados no rancho, onde nos esperavam três deliciosos matrinxãs pescados e assados por Ari.
No terceiro dia deixamos o rancho, sempre de barco, para acessar a trilha que nos levará a uma das cachoeiras do rio Carabinani. Os barqueiros pedem a Ari, exímio conhecedor dessas águas, que se integre ao grupo. O perigo, na época da vazante, são as pedras que aguardam traiçoeiras sob a superfície do rio. Ari se senta na proa e com os braços vai indicando o canal que permite o avanço da embarcação, sem colidir com as rochas. De repente a lancha se descontrola e avança de ré, o motor perigosamente apontado em direção a uma rocha. "Topou, topou!", exclama o piloto, no único momento de exaltação que o vejo ter durante toda a viagem. Mas não topou, isto é, bateu. Evitado esse ponto crítico, descemos todos da embarcação e seguimos a pé sobre as pedras até a cachoeira.
No caminho a pé vejo uma cobra marrom, fina, que rapidamente se esconde à nossa passagem. Descrevo-a para os guias. "É uma surradeira", dizem. "Se você urinar no lugar onde ela mora, ela te atingirá com o rabo, baterá em você com o rabo". Daí o nome "surradeira". Logo depois desse encontro, passamos por uma cruz de madeira fincada na terra. "É um homem que morreu afogado no rio Carabinani", explicam os guias.
Logo adiante compreendo porque se morre afogado nesse rio. Mesmo na vazante a força das águas é descomunal. Formam-se como que dutos de alta pressão entre as pedras, despejando milhares de litros de água por segundo, numa velocidade frenética. O ruído produzido é quase ensurdecedor. Cruzamos as águas em alguns pontos mais seguros. Os companheiros fazem-no de pé, pisando cautelosamente, de modo a ganhar equilíbrio, resistindo à força da correnteza. Pressinto, no entanto, que um passo em falso pode levar a pessoa a se desequilibrar e cair na correnteza, de onde será fatalmente levada até os perigosos dutos de alta pressão. Então me agacho e vou me esgueirando lentamente, agarrando as pedras com as mãos e avançando somente quando sinto que estou preso a elas. "Não é lá uma grande vantagem em relação a atravessar em pé, pois se me soltar a corrente empurrará o meu corpo por inteiro, que será jogado de uma vez nos canais perigosos", penso. É claro que, além das águas, o perigo aqui são as pedras, sobre as quais se pode ser arremessado.
Nesse dia, que é também o dia do retorno, despedimo-nos de Ari e embarcamos novamente. A viagem de volta é bem mais rápida, porque a embarcação desloca-se sempre a favor da correnteza, nos três rios que percorre: o Carabinani, o Jaú e o Negro. Paramos apenas uma vez, para visitar um conjunto de rochas sobrepostas, denominado Gruta do Madadá.
Quando chegamos a Novo Airão, estamos em êxtase, Roberto e eu. Os últimos três dias impregnaram-nos de um sentimento misto de deslumbramento e liberdade, que flui livremente quando nos sentamos num agradável restaurante flutuante, o Flor do Luar. Admiramos a bela garçonete morena, de traços índios, que circula entre as mesas. Está sempre séria, mas quando me despeço, com um "muito obrigado", mirando-a nos olhos, ela me devolve um sorriso.
De Novo Airão para Manaus e cá estou na minha última noite na Amazônia. No dia seguinte pegarei o avião para Belo Horizonte. Roberto se despedira de mim em Manaus e pegara um voo para Boa Vista, onde visitaria um amigo. Eu supunha que ele ainda estivesse lá, mas subitamente o Whatsapp me chama:
- "Olá, estou por aqui, o meu avião é só à meia noite, estou pensando em comer alguma coisa". E acrescenta uma foto do lugar onde está: Bar do Armando.
- "Puxa, que pena, acabei de comer um sanduíche e vim para o hotel. Você não foi para Boa Vista?"
- "Bate e volta. Tô indo embora para o Rio. Nau de loucos este bar onde estou".
A expressão me atraiu:
- "Vou aí te encontrar, então. Espere um pouco".
- "Sim, mas vem ligeiro. Acabei de pedir uma porção de bolinho de pirarucu. Tenho que ir para o Rio daqui a pouco, sob o risco de me afundar na Amazônia, hahaha".
Eu havia entrado numa manhã no Bar do Armando, quase ao lado do Teatro Amazonas, para comprar água mineral. Apreciara os enormes bonecos e as fotografias que decoravam o lugar, mas não imaginara que à noite se transformasse num espaço de música e descontração. O bar tem um ar dúbio, que mistura o popular e o underground. As mesas acolhem grupos e casais, mas também homens solitários, bebedores de cerveja. Naquela noite de segunda-feira o rock brasileiro anos 80 explodia ao som de uma pequena banda de três músicos. O baterista, um homem magro, moreno, cujo olhar fazia jus à expressão de Roberto - "nau de loucos" -, como que possuído pelo deus do ritmo, fazia vibrar o prato e o atabaque.
Despedi-me de Roberto, que pegaria o avião dali a pouco. E permaneci ainda horas naquele bar, sentado sozinho à pequena mesa, tomando uma inocente água tônica e cantando junto com os músicos. Pedi duas músicas - "Satisfaction", "Malandragem" -, não tocaram. De vez em quando revezavam-se, outros que bebiam na mesa em frente substituíam os que estavam tocando e iniciavam outro repertório. Nau de loucos. O rapaz, também solitário, sentado na mesinha ao lado, puxou conversa: "Você também canta?". "Não", sorri. "Apenas gosto dessas músicas, são de uma outra época". Dali a pouco, pegou a mochila e despediu-se. Pegou na minha mão, eu disse: "vá em paz, irmão". Por volta de uma hora da manhã, foi a vez de me ir. Saudei os músicos e entrei na quente noite manauara. Ao longo dos poucos quarteirões que me separavam do hotel, olhava em torno, entrevendo uma ou outra figura encostada nas paredes escuras. Mas sabia que nada me aconteceria. Era a minha última noite na Amazônia.
No terceiro dia deixamos o rancho, sempre de barco, para acessar a trilha que nos levará a uma das cachoeiras do rio Carabinani. Os barqueiros pedem a Ari, exímio conhecedor dessas águas, que se integre ao grupo. O perigo, na época da vazante, são as pedras que aguardam traiçoeiras sob a superfície do rio. Ari se senta na proa e com os braços vai indicando o canal que permite o avanço da embarcação, sem colidir com as rochas. De repente a lancha se descontrola e avança de ré, o motor perigosamente apontado em direção a uma rocha. "Topou, topou!", exclama o piloto, no único momento de exaltação que o vejo ter durante toda a viagem. Mas não topou, isto é, bateu. Evitado esse ponto crítico, descemos todos da embarcação e seguimos a pé sobre as pedras até a cachoeira.
No caminho a pé vejo uma cobra marrom, fina, que rapidamente se esconde à nossa passagem. Descrevo-a para os guias. "É uma surradeira", dizem. "Se você urinar no lugar onde ela mora, ela te atingirá com o rabo, baterá em você com o rabo". Daí o nome "surradeira". Logo depois desse encontro, passamos por uma cruz de madeira fincada na terra. "É um homem que morreu afogado no rio Carabinani", explicam os guias.
Logo adiante compreendo porque se morre afogado nesse rio. Mesmo na vazante a força das águas é descomunal. Formam-se como que dutos de alta pressão entre as pedras, despejando milhares de litros de água por segundo, numa velocidade frenética. O ruído produzido é quase ensurdecedor. Cruzamos as águas em alguns pontos mais seguros. Os companheiros fazem-no de pé, pisando cautelosamente, de modo a ganhar equilíbrio, resistindo à força da correnteza. Pressinto, no entanto, que um passo em falso pode levar a pessoa a se desequilibrar e cair na correnteza, de onde será fatalmente levada até os perigosos dutos de alta pressão. Então me agacho e vou me esgueirando lentamente, agarrando as pedras com as mãos e avançando somente quando sinto que estou preso a elas. "Não é lá uma grande vantagem em relação a atravessar em pé, pois se me soltar a corrente empurrará o meu corpo por inteiro, que será jogado de uma vez nos canais perigosos", penso. É claro que, além das águas, o perigo aqui são as pedras, sobre as quais se pode ser arremessado.
Nesse dia, que é também o dia do retorno, despedimo-nos de Ari e embarcamos novamente. A viagem de volta é bem mais rápida, porque a embarcação desloca-se sempre a favor da correnteza, nos três rios que percorre: o Carabinani, o Jaú e o Negro. Paramos apenas uma vez, para visitar um conjunto de rochas sobrepostas, denominado Gruta do Madadá.
Quando chegamos a Novo Airão, estamos em êxtase, Roberto e eu. Os últimos três dias impregnaram-nos de um sentimento misto de deslumbramento e liberdade, que flui livremente quando nos sentamos num agradável restaurante flutuante, o Flor do Luar. Admiramos a bela garçonete morena, de traços índios, que circula entre as mesas. Está sempre séria, mas quando me despeço, com um "muito obrigado", mirando-a nos olhos, ela me devolve um sorriso.
***
De Novo Airão para Manaus e cá estou na minha última noite na Amazônia. No dia seguinte pegarei o avião para Belo Horizonte. Roberto se despedira de mim em Manaus e pegara um voo para Boa Vista, onde visitaria um amigo. Eu supunha que ele ainda estivesse lá, mas subitamente o Whatsapp me chama:
- "Olá, estou por aqui, o meu avião é só à meia noite, estou pensando em comer alguma coisa". E acrescenta uma foto do lugar onde está: Bar do Armando.
- "Puxa, que pena, acabei de comer um sanduíche e vim para o hotel. Você não foi para Boa Vista?"
- "Bate e volta. Tô indo embora para o Rio. Nau de loucos este bar onde estou".
A expressão me atraiu:
- "Vou aí te encontrar, então. Espere um pouco".
- "Sim, mas vem ligeiro. Acabei de pedir uma porção de bolinho de pirarucu. Tenho que ir para o Rio daqui a pouco, sob o risco de me afundar na Amazônia, hahaha".
Eu havia entrado numa manhã no Bar do Armando, quase ao lado do Teatro Amazonas, para comprar água mineral. Apreciara os enormes bonecos e as fotografias que decoravam o lugar, mas não imaginara que à noite se transformasse num espaço de música e descontração. O bar tem um ar dúbio, que mistura o popular e o underground. As mesas acolhem grupos e casais, mas também homens solitários, bebedores de cerveja. Naquela noite de segunda-feira o rock brasileiro anos 80 explodia ao som de uma pequena banda de três músicos. O baterista, um homem magro, moreno, cujo olhar fazia jus à expressão de Roberto - "nau de loucos" -, como que possuído pelo deus do ritmo, fazia vibrar o prato e o atabaque.
Despedi-me de Roberto, que pegaria o avião dali a pouco. E permaneci ainda horas naquele bar, sentado sozinho à pequena mesa, tomando uma inocente água tônica e cantando junto com os músicos. Pedi duas músicas - "Satisfaction", "Malandragem" -, não tocaram. De vez em quando revezavam-se, outros que bebiam na mesa em frente substituíam os que estavam tocando e iniciavam outro repertório. Nau de loucos. O rapaz, também solitário, sentado na mesinha ao lado, puxou conversa: "Você também canta?". "Não", sorri. "Apenas gosto dessas músicas, são de uma outra época". Dali a pouco, pegou a mochila e despediu-se. Pegou na minha mão, eu disse: "vá em paz, irmão". Por volta de uma hora da manhã, foi a vez de me ir. Saudei os músicos e entrei na quente noite manauara. Ao longo dos poucos quarteirões que me separavam do hotel, olhava em torno, entrevendo uma ou outra figura encostada nas paredes escuras. Mas sabia que nada me aconteceria. Era a minha última noite na Amazônia.














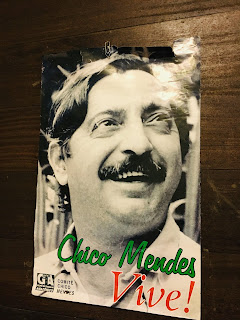
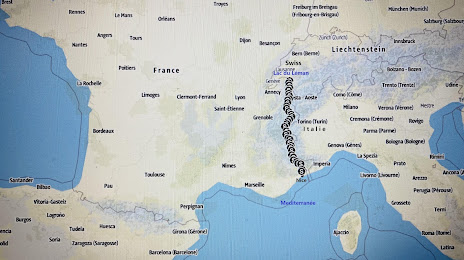


Saudações Linda aventura,da até um livro,um grande abraço
ResponderExcluirObrigado pelo incentivo!
Excluir